
|
||
 |
Instauração do liberalismo em Portugal (*)

Victor de Sá
Introdução
Quadro histórico do movimento liberal português
As primeiras manifestações do pensamento socialista em Portugal surgem estreitamente ligadas às dificuldades e às contradições do sistema liberal que, tentado num primeiro período, entre 1820 e 1823, acabaria por triunfar em 1834, ao cabo de uma guerra civil de dois anos.
Inicialmente o movimento liberal português desenrola-se, pois, numa época dominada pelo espírito da Restauração e tutelada pelos tratados de Viena que, a partir de 1815, estabeleceram um certo «equilíbrio europeu»; em seguida, após os movimentos democráticos de 1830, sofre a influência da Monarquia francesa de Julho e, por fim, é condicionado pelo temor do movimento operário que crescia na Europa. Podemos assim verificar que não é lícito reduzir a definição do liberalismo português a uma única e simples fórmula, porque a cada conjuntura internacional corresponde, por um lado, uma situação diferente da política interna do País e, por outro, perspectivas diversas para o movimento liberal.
Durante o primeiro período, a intervenção das grandes potências representa papel muito importante, não apenas na manutenção da paz no continente europeu, mas também na submissão dos pequenos países, quer se trate dos Estados italianos, quer de Portugal ou da Espanha. A prova é-nos dada pela maneira brutal como, nesses países, os movimentos liberais de 1820 foram, a pretexto da «legitimidade» do poder real, esmagados pela «Santa Aliança», sob o olhar benevolente da Grã-Bretanha. Estando os problemas políticos, já no tempo da Restauração, subordinados às exigências da grande transformação económica e social que se operava desde finais do século XVIII, em virtude da revolução industrial que se estendia da Inglaterra ao continente, as potências que haviam chamado a si a defesa das monarquias tradicionalistas (Áustria e Rússia) e das monarquias constitucionais (Grã-Bretanha e França) preocupavam-se com o escoamento dos produtos das suas indústrias e com o acesso às fontes de matérias-primas.
Os movimentos de libertação das colónias da América Latina, especialmente do Brasil, assumiram com efeito um papel muito importante no campo da política internacional por alturas do primeiro período do liberalismo português. Esses movimentos evidenciavam as influências contraditórias das potências europeias, sobretudo da França e da Inglaterra, no que respeita aos países da Península Ibérica, aqueles justamente que, desde o Renascimento, haviam sido as maiores potências coloniais do mundo. Sobre a Espanha pesava a influência da França; Portugal, por seu turno, estava submetido aos interesses ou mesmo às exigências da sua aliada - a coroa- britânica. A partir do momento em que, nas invasões napoleónicas; uma esquadra inglesa levara a família: real portuguesa: para o Brasil (1807), a Grã-Bretanha passara a exercer efectivamente o seu domínio em Portugal: o exército era comandado por oficiais superiores britânicos, e o marechal Beresford, «generalíssimo» das tropas portuguesas desde 1809, gozava em Portugal de autoridade mesmo superior à do governo da «Regência»: tinha poder análogo ao de um vice-rei.
No segundo período, a influência das potências estrangeiras desempenhou um papel igualmente importante, embora com aspectos diferentes. Favorecendo, primeiro, a instauração das estruturas políticas e económicas do liberalismo, e aproveitando novos recursos que Portugal oferecia ao desenvolvimento capitalista, aquelas potências não deixaram de esforçar-se por contrariar os ímpetos do movimento democrático nacional. Por duas vezes, pelo menos, os factos patentearam-se com clareza: à Revolução de Setembro (1836) opuseram-se as coroas da Grã-Bretanha e da Bélgica; à Patuleia (1846-1847), as da Grã-Bretanha, da Espanha e da França. Nas vésperas da Revolução francesa de Fevereiro de 1848, no momento em que o governo liberal de Lisboa se encontrava em posição bastante difícil, um exército espanhol, por um lado, e a esquadra britânica, por outro, intervieram, com a cumplicidade do governo de Guizot, para esmagar por completo o levantamento popular que há mais de um ano se desenvolvia.
Vê-se pois que um longo período de agitação política, económica, social, militar e diplomática marcou muito fortemente as três décadas da história da sociedade portuguesa desde o primeiro e efémero triunfo do liberalismo (1820-1823) até à altura em que, vencida toda a resistência popular, as estruturas capitalistas poderão finalmente consolidar-se. Tendo atingido alguns sectores intelectuais da burguesia, cuja atenção foi particularmente atraída para as consequências do domínio plutocrático do Estado, essa agitação favoreceu também o influxo das ideologias sociais que se expandiram em toda a Europa, por volta de 1848.
É sob esta dupla pressão - por um lado as recordações melancólicas do malogro de 1847, por outro a exaltação ideológica de 1848 - que se prepara o movimento político, anunciador de reformas sociais, designado com o nome de Regeneração (1851-1852). As tendências reformistas de tipo pequeno-burguês foram então defendidas por intelectuais da burguesia, especialmente os primeiros socialistas portugueses. Mas os homens que dentro em breve se apoderam do movimento dar-lhe-ão directrizes completamente diferentes. Embora reconhecendo solenemente a Regeneração, seguiram uma política conservadora e apenas favorável à consolidação das estruturas do capitalismo em Portugal.
O nosso trabalho deter-se-á precisamente neste momento que assinala um novo período da história da sociedade portuguesa.
Características do liberalismo em Portugal
Neste trabalho vamos pois consagrar-nos à época de transição da sociedade portuguesa do Antigo Regime até à sociedade moderna burguesa e capitalista. E assim ocupar-nos-emos da instauração do liberalismo em Portugal, do estabelecimento das suas estruturas políticas, económicas e também dos conflitos que fortemente marcaram a referida época.
Para se compreender bem o processo que se desenrolou durante as três décadas dessa transição temos de vincar alguns aspectos que podem auxiliar-nos a caracterizar o liberalismo português.
Primeiramente, há que sublinhar o atraso no despertar do liberalismo em Portugal. Nem as repercussões da Revolução francesa, nem a presença dos exércitos napoleónicos (entre 1807 e 1811), nem as primeiras tentativas do liberalismo em Espanha (1808-1814, Constituição de Cádis de 1812) provocaram a mínima mudança, mesmo temporária, das estruturas políticas ou económicas em Portugal, vigorando sempre o regime que se mantinha há mais de um século - a monarquia absoluta. O País foi o menos atingido pela influência revolucionária que a presença dos soldados franceses exerceu, em menor ou maior escala, em toda a parte onde Napoleão os conduziu (1). A atitude das altas esferas do Estado e da Igreja, da Academia e da Universidade e, enfim, da grande burguesia explica em larga medida esse fenómeno. Em contraste com a resistência popular, por vezes encarniçada, que por todo o lado se manifestou, frequentemente dirigida pelo baixo clero, os dirigentes e a grande burguesia convenceram de tal modo as autoridades francesas e o próprio Imperador da sua vassalagem que Napoleão não precisou de decretar em Portugal reformas económicas e constitucionais, à semelhança do que havia feito noutros países.
Esta primeira observação leva-nos, muito naturalmente, à segunda: a falta de vigor revolucionário da burguesia liberal portuguesa. Ainda que teòricamente ligada aos princípios filosóficos das Luzes e às doutrinas económicas dos fisiocratas, não se mostrou, em verdade, bastante preocupada em conseguir profundas modificações de ordem política ou económica. Só em presença de uma situação económica muito grave e alarmante após a perda definitiva do monopólio comercial do Brasil, da queda dos preços dos produtos agrícolas causada pela concorrência dos cereais importados, do deficit da balança comercial, sempre agravado depois de 1807, é que um sector da burguesia se decidiu, em 1820, a uma acção política organizada e efectiva.
A falta de vigor revolucionário dos liberais portugueses é confirmada pela sua posição doutrinária. Em face das monarquias absolutas, que proclamavam a origem divina da autoridade real e da ordem social, os liberais, mais autoritários, dentro do modelo bonapartista, do que democratas ou partidários da soberania popular, eram também adeptos da monarquia e da ordem social estabelecida. Inspirados na tradição intelectual das Luzes, defendiam, é verdade, a teoria da soberania da lei fundada na Razão, a liberdade individual, hostil a toda a soberania social e civil, o respeito, enfim, pela propriedade, sendo esta considerada, não um direito natural, mas adquirido. Contudo, não alimentavam a ideia de república ou de quaisquer outras modalidades de soberania popular e de igualdade proclamadas pela Revolução francesa, embora a elas por vezes se referissem nos seus discursos. O seu ideal político era o regime parlamentar e constitucional no estilo da antiga Carta inglesa ou da Constituição francesa, outorgada por Luís XVIII, em 1814, nas quais os princípios de igualdade civil foram substituídos pelo bicamaralismo e pelo sistema eleitoral censitário. E mesmo nos limites políticos deste regime preferiam, normalmente, às teorias parlamentares de Benjamin Constant ou às de Jeremy Bentham, um pouco mais radicais, as concepções monárquicas de um Royer-Collard quando este defendia as prerrogativas reais.
Contradição da burguesia liberal portuguesa
Esta posição doutrinária da nossa burguesia liberal levava a uma contradição: pretender imitar, pelo menos até 1830, as monarquias constitucionais, como a da França da Restauração, sem se dar conta das circunstâncias muito diferentes dos dois países no ponto de vista económico e social. A burguesia portuguesa ainda não dispunha, com efeito, das armas económicas que a sua congénere de além-Pirenéus detinha desde a grande Revolução e eram resultantes da compra dos bens nacionais que anteriormente pertenciam à nobreza feudal e à Igreja. Entre nós a nacionalização de tais bens só se verifica em 1834. Desta contradição resultaram sucessivos malogros do movimento liberal nos anos que se seguiram a 1820, assim como a pertinácia dos absolutistas em conservar o poder para assegurar as imensas vantagens de que há muito, digamos mesmo há séculos, gozavam.
A despeito deste antagonismo fundamental que opunha os adeptos do antigo aos adeptos do novo regime, a burguesia liberal, que além disso sempre desprezou e até repudiou o apoio que as camadas populares podiam prestar-lhe, manifestou continuamente, mesmo durante a guerra civil, uma tendência obstinada em aliar-se à antiga nobreza, tendo como preocupação evitar as mudanças profundas da estrutura social. Ocupar, sem grandes abalos, o lugar da antiga classe dominante ou, pelo menos, partilhar com ela os privilégios que as opunham, ambas, numa mesma solidariedade de interesses, à pequena burguesia campesina e aos trabalhadores em geral, rurais ou urbanos, tal era, no fim de contas, a sua mais alta aspiração no campo económico e social.
Lentidão da transformação económica
Tudo isto - falta de vigor revolucionário, apego aos privilégios, hesitações em política e, enfim, o medo a toda a mudança social - explica, em grande parte, a lentidão da transformação económica da sociedade portuguesa no decorrer dos três decénios do movimento liberal, sendo outras causas os interesses imperialistas das potências estrangeiras, sobretudo a Grã-Bretanha e a Bélgica, que pesavam bastante no corpo da nação. Mesmo as medidas mais revolucionárias do liberalismo português, decretadas após a guerra civil, como a expropriação dos bens das comunidades religiosas (mais de meio milhar de conventos) e a venda dos bens nacionais só aproveitaram, de maneira geral, à grande burguesia. Não se havendo verificado uma intensa partilha de terras, o único resultado obtido foi efectivamente a transferência da propriedade. E porque assim aconteceu, continuaram a predominar os factores da economia tradicional: superioridade da agricultura sobre a produção industrial, estabilização numérica da população e ausência de transportes rápidos e baratos. As verdadeiras mudanças só mais tarde se produziram, depois do arranque do processo capitalista no tempo da Regeneração.
A população, por exemplo, manteve-se na ordem dos três milhões durante os quatro primeiros decénios do século. Se a população sobe em 1850 a quase três milhões e meio, essa tendência tardia para o crescimento só se acentuará no terceiro quartel do século para atingir os cinco milhões (mais ou menos metade da população actual) no final do mesmo século (2). A esmagadora maioria da população habitava o campo; menos de meio milhão, apenas, se concentrava nas cidades mais importantes e isto na altura em que o número total ultrapassara já os quatro milhões (3).
A situação do campesinato era desfavorável em consequência sobretudo dos encargos feudais que pesavam sobre os camponeses, obrigados a pagar rendas perpétuas aos senhores ou aos donatários. Em Portugal, estes encargos nunca foram verdadeiramente eliminados pelo liberalismo. Muita das leis dos forais, sucessivamente decretadas, sobretudo entre 1821 e 1846, e também mais tarde, não conseguiram trazer urna solução efectiva e satisfatória para o campesinato, sendo apenas suprimidas em definitivo as obrigações pessoais (1821). O domínio semifeudal da terra prolongou-se ainda pela segunda metade do século e até mesmo pelo século XX.
Se a abolição dos morgados foi decretada em 1863, os forais - sempre sujeitos a polémicas encarniçadas e objecto de complexa legislação, ambígua e confusa (4) - subsistiram de uma forma ou de outra, e ainda hoje existem fortes reminiscências deles.
Esta resistência, oposta pelos próprios liberais, à liberdade da terra, em flagrante contradição com as teorias económicas que caracterizam o liberalismo, mostra-nos que a burguesia liberal portuguesa não renunciou de formam alguma a viver a expensas das rendas fundiárias, da mesma maneira que os antigos senhores feudais.
Lentidão das mudanças na sociedade, na técnica e no crédito
Quanto à composição social da população, ainda que a supressão dos conventos haja deslocado mais de doze mil pessoas que neles viviam, o quadro geral manteve-se também sem modificações sensíveis. A grande maioria da nação que não pertencia à burguesia recentemente enobrecida era constituída pelo campesinato, no qual rendeiros e proprietários mais ou menos afortunados formavam uma burguesia rural, com o seu séquito de trabalhadores agrícolas reduzidos à condição de escravos dos seus senhores, subalimentados e que sempre viveram e morreram pobres; por outro lado, pequenos proprietários que trabalhavam pessoalmente a terra, mas cujos bens fundiários estavam geralmente hipotecados a tal ponto e em tão onerosas condições que o verdadeiro proprietário já não era o camponês mas o usurário que lhe emprestara o dinheiro.
Quanto às cidades, era aí que se concentrava, ao lado dos militares, da burguesia comercial e dos quadros da burocracia do Estado, o maior numero dos pequeno-burgueses e de operários, quase todos empregados nas oficinas artesanais, cujo sistema de produção pouco se alterara desde a Idade Média. Se não dispomos de estatísticas para determinar exactamente a predominância deste tipo de produção, podemos fazer uma ideia aproximada das suas proporções, relativamente à indústria fabril através dos números obtidos um pouco mais tarde, em 1867, já no fim da Regeneração quando a metamorfose industrial do País acabava de ter o seu arranque com o aparecimento dos caminhos-de-ferro: a 9.402 estabelecimentos industriais correspondia mais do décuplo de oficinas artesanais, exactamente 106.157, a crermos num recenseamento de origem fiscal (5).
É verdade que uma certa tendência para o progresso técnico, sobretudo no campo dos transportes, se começava a sentir desde o início do movimento liberal: a aplicação do vapor à navegação data de 1821, dentro pois do primeiro período do liberalismo; o melhoramento das estradas começa mesmo antes da Patuleia. Mas os caminhos-de-ferro que, em França e noutros lados, tiveram a sua grande expansão na década de 30, entre nós ficarão a dever-se à Regeneração, na de 60. De resto, seria falso imaginar que o progresso industrial tenha começado, entre nós, com o liberalismo. Fizeram-se já estudos que nos mostram o seu início desde o fim do século XVIII, em consequência das reformas económicas de Pombal (6).
E antes mesmo que algumas figuras do liberalismo se interessassem bastante pela industrialização do País, quem muito se bateu pelo desenvolvimento industrial foi um autor que no domínio político se mostrou partidário encarniçado da monarquia absolutista - José Acúrcio das Neves (7).
Os principais centros comerciais situam-se naturalmente na capital e no Porto, as duas maiores cidades e servidas por portos marítimos e fluviais. Em 1826 achavam-se registadas em Lisboa 735 casas comerciais, das quais 564 pertenciam a comerciantes portugueses, as outras a estrangeiros; nestas, as nacionalidades mais representadas eram a Grã-Bretanha (60), a Sardenha (33), a Espanha (21), as cidades hanseáticas (17), a França (15) e a Áustria (10). Nas restantes, representadas por um número mais fraco, encontram-se a Suíça, os Estados Unidos da América, os Países Baixos, a Suécia, a Prússia e a cidade de Hanôver. O Porto ocupava um lugar muito mais reduzido, com apenas 289 comerciantes inscritos, mas a percentagem mais elevada ia para as casas britânicas, cerca de 14% contra 8,2% em Lisboa (8).
No campo das finanças e da organização bancária, se é certo que o primeiro banco português data justamente de 1821, na primeira fase liberal, não é contudo menos verdade que o crédito não se expandiu e que as hipotecas pesaram de tal forma, sobretudo em cima dos pequenos proprietários, que ao longo de todo o século se levantarão a este respeito muitas reclamações. Em 1834 foi votada no Parlamento uma lei que previa empréstimos aos agricultores com um juro de 5%, então considerado muito vantajoso, mas que de modo algum satisfez as necessidades da época. Alexandre Herculano apresentará ainda em 1855, à semelhança de outros antes dele, um Projecto de Caixa de Socorros Agrícolas. Em 1864 constituiu-se uma Companhia de Crédito Fundiário, mas no fim do século continuava-se a chamar a atenção pública para a Necessidade de cimentar e desenvolver o nosso crédito agrícola, como se intitulava um artigo publicado em 1890 (9).
O papel da juventude intelectual
É em face desta resistência obstinada da burguesia liberal, sobretudo das grandes burguesias rural e financeira, que adquire verdadeiro alcance uma inovação, talvez a mais importante, do ponto de vista social: o aparecimento das novas gerações de intelectuais. Embora, pela origem e pelos vínculos, pertencessem em geral às diversas camadas da burguesia, mas tendo vivido numa época em que os abalos sociais se sucediam, os jovens estudantes da Universidade participaram activamente nos acontecimentos políticos do tempo. Constituíram até, em diversas alturas, batalhões académicos e lutaram de armas na mão ao lado do povo revoltado, como sucedeu na Patuleia; por tal motivo, o governo fechou a Universidade durante todo o ano lectivo (1846-1847).
Esta juventude, se bem que em grande parte se identificasse, desde a entrada na vida prática e profissional, com os interesses globais da burguesia, forneceu em meados do século os primeiros adeptos das ideias socialistas em Portugal. Não menos liberais que todos os outros burgueses, deles se distinguiam contudo pela aspiração de levar o movimento liberal até ao seu fim lógico, emancipando por competo a terra dos encargos senhoriais, generalizando o crédito e as associações e até alimentando a ilusão de tentar abolir o proletariado. Ao sair da Universidade, esta juventude não se limitou a preencher passivamente os quadros da administração pública central e local; contribuiu muito, mesmo por inclinações literárias e pela denúncia romântica das mais flagrantes desigualdades sociais, para a formação de uma nova mentalidade desejosa de progresso material e de solidariedade humana.
O interesse da análise de uma época de crise
Se, no estrito ponto de vista económico e social, não registamos transformações de vulto durante os três decénios abrangidos pelo nosso estudo, nem por isso, à luz de outros motivos, a época se reveste de menos interesse. Abarcando um período prolongado de crise, durante o qual as camadas populares reagiram contra as consequências sociais da nascente concentração capitalista e os efeitos oligárquicos da dominação plutocrática do Estado, esta época permite-nos distinguir melhor a composição das forças sociais, políticas e económicas, os centros, os agentes e os meios de pressão, os diversos tipos de comportamento individual e colectivo, em resumo as contradições das classes e dos grupos de interesses. Além disso, a quadra de transição política entre o Antigo Regime e a nova sociedade capitalista e burguesa, que é a mesma dos nossos dias, permite-nos observar, não apenas a formação das estruturas políticas e económicas fundamentais que hão-de favorecer o posterior desenvolvimento da sociedade, mas também a metamorfose e a adaptação das ideias sociais. Estas eram chamadas a representar um papel altíssimo na sociedade, quer as ideias novas ligadas ao progresso quer as ideias hostis a toda a mudança social. As últimas exerceram também e continuam a exercer ainda em Portugal uma pressão muito forte, cuja importância não devemos subestimar.
Dificuldades de análise, provenientes do estado da historiografia portuguesa
Por todos estes aspectos que acabamos de esboçar, adivinha-se quanto é difícil a análise das três décadas no decurso das quais se instaura o liberalismo em Portugal. Mas não é tudo; há que ter em conta também a complexidade dos acontecimentos e das suas implicações recíprocas. Os obstáculos provêm sobretudo da impossibilidade de compreender os factos particulares, se não distinguirmos bem as linhas gerais do processo no qual se inscrevem. E não podendo fixar estas linhas genéricas sem conhecer o conjunto de acontecimentos parciais que as determinam, ou pelo menos um número suficiente e significativo, o investigador esbarra nas carências e no estado da historiografia portuguesa relativa ao período em causa. Dado que este resta, na generalidade, à margem das exigências da historiografia científica, temos de desconfiar tanto do simplismo da maior parte das versões tradicionais dos acontecimentos, como do optimismo apregoado pelos cronistas ou os memoralistas que no-los apresentam.
Ora não nos é licito esquecer que, sendo a história desta época quase sempre escrita pelos vencedores, muitas versões foram ditadas efectivamente por conveniências ocasionais ligadas ao momento em que se desenrolaram, conveniências de natureza política, diplomática ou até simplesmente sectária. Além disso, são-nos por via de regra transmitidas por cronistas oficiais, como é o caso, entre outros, de Luz Soriano, que redigiu por conta do Ministério da Guerra o relato mais pormenorizado e até hoje a fonte mais seguida no que respeita às lutas liberais até 1834: os 19 grossos volumes da História da Guerra Civil e do estabelecimento do governo parlamentar em Portugal (Lisboa 1866-1890). Tendo passado século e meio sobre os acontecimentos, é mais que tempo de não se aceitar este género de limitações, aliás completamente inaceitáveis do ponto de vista da história científica.
Afigura-se-nos que a tais dificuldades se deve, a despeito do interesse recentemente despertado em Portugal pelo século XIX - um século que durante muito tempo foi desprezado pela crítica histórica -, o facto de ninguém, até hoje, haver empreendido a revisão da história deste período, sendo tendência geral considerar satisfatórias as versões tradicionais. Daí subsistirem os velhos erros: preconceitos ideológicos, mistura de factos objectivos e de explicações puramente subjectivas, imprecisões ou mesmo inversões cronológicas, por vezes intencionais, não inserção dos acontecimentos internos na conjuntura internacional, contradições que não são explicadas nem compreendidas, enfim, preocupações apologéticas manifestas. Tais são os defeitos mais frequentes que contribuem para manter a historiografia do período liberal português numa fase pré-científica. Os que conhecem este estado de subdesenvolvimento, sabem também da falta de elementos necessários ao empreendimento de tal estudo, carência que vai das classificações cronológicas e bibliográficas mais elementares, mas com rigor estabelecidas, até um recenseamento integral e objectivo dos factos, ou por outras palavras a simples descrição factual dos acontecimentos.
Enquanto assim acontecer, como admirar-nos que o Professor Jacques Droz, um dos autores de um manual universitário francês de história contemporânea, Restaurations et Révolutions (1815-1871) (10), apenas nele se ocupe, e de forma muito esquemática e um tanto equívoca, uma só página (11) em 661, à evolução interna de Portugal na época da instauração ao liberalismo, e tomando como fonte um trabalho português de 1881, o de Oliveira Martins, Portugal Contemporâneo (12)? Contudo, quer os acontecimentos da política portuguesa quer os da política espanhola, acham-se ligados, em consequência da libertação das colónias da América Latina, ao processo da expansão económica da Europa capitalista. E apesar deste ocasional esquecimento, quantas preocupações deu Portugal às potências que naquela época atribuíam a si mesmas o papel de gendarmes da Europa, fosse à sua aliada, a Inglaterra, rainha dos mares, ou, sobretudo no terceiro decénio do século, à Áustria de Metternich e até à velha Rússia dos czares!
O espírito de classe nos intelectuais liberais
Neste trabalho, tivemos de lutar igualmente contra a tendência para encarar os problemas ideológicos de um simples ponto de vista literário, com repúdio da análise sociológica. Esta perniciosa tendência, de que em grande parte é responsável o historiador português Oliveira Martins (13), foi reforçada pelo prestígio dos homens de letras da época liberal, que impregnaram a literatura portuguesa com a sua própria ideologia.
A «liberdade» que os vencedores de 1834 celebraram, na história e na literatura, era apenas, com efeito, a liberdade burguesa. O «povo», segundo a expressão consagrada pela ideologia dominante na época apenas representava a burguesia no sentido lato do termo, quer dizer, dentro do conceito de Napoleão, os possuidores e só eles; os trabalhadores e todos quantos, não tendo propriedade, nem indústria, nem comércio, não pagavam imposto ao Estado, eram considerados elementos estranhos ao corpo da nova sociedade burguesa. Esta maneira de ver é de resto claramente exposta pelos ideólogos liberais desse tempo.
Para Silva Maia, um dos publicistas constitucionais forçados a emigrar em 1828 e em cuja obra encontramos uma concepção clara da divisão das classes nessa época, a sociedade portuguesa compunha-se da aristocracia, da classe média e da plebe. A aristocracia «de sangue», era considerada pouco numerosa, sem cultura e pouco disposta a pagar dívidas. A classe média, à qual pertencia este autor, membro da burguesia comercial do Porto, era pelo contrário a «aristocracia da capacidade». Quanto à plebe, que «só sente e mal pensa», levantava tais preocupações que Silva Maia não se abstinha de recomendar que a mantivessem «passiva e obediente» e que nunca lhe permitissem «que tenha interferência em actos do Governo e que esteja armada» (14).
O mesmo conceito aristocrático de «povo» encontramos na obra que o poeta Almeida Garrett publicou durante o exílio, Portugal na balança da Europa (Londres, 1830): à massa do povo opunha a plebe pròpriamente dita, em sua opinião pertencendo às «classes menos influentes do Estado»; o «povo» de Garrett era constituído por aqueles «que por seu talento ou valor, ou importância adquirida ou herdada», quer dizer, «por todos quantos por nascimento, por cabedais, por mérito pessoal sobrepujam em consideração e se elevaram da massa geral a toda e qualquer espécie de proeminência social» (15). Trata-se portanto claramente da burguesia.
Por seu turno, o historiador Alexandre Herculano, à semelhança de Guizot (16) e de Tocqueville (17) em França, consagrou històricamente a burguesia triunfante nos seus estudos medievais. Mostrou a subida gradual do «povo», isto é dos possidentes, aqueles que, desde a Idade Média, acederam pouco a pouco aos cargos superiores do Estado. Eis como ele apresentava a situação em finais do século XIII: «O povo, no meio de um sistema de profunda desigualdade civil e política, oprimido por impostos de mil espécies, ia conquistando ràpidamente a independência, à força de economia e de trabalho; e preparava-se para adquirir a importância que chegou a obter na direcção dos negócios públicos dentro em menos de um século.» (18) Concebeu pois uma teoria sobre «a grande acção dos concelhos no progresso social da nação» e, a partir daí, elaborou uma explicação de «sua derradeira consequência - a vitória da classe burguesa numa época remota que é a nossa» (19). Ele que, em política se opôs às milícias populares do seu próprio tempo, sublinhou que, para constituir a milícia municipal da Idade Média «só os chefes de família, proprietários territoriais» eram chamados, e que «um grande número de indivíduos - esses a que geralmente hoje se chama proletários e os artífices da pequena indústria fabril, única no país - ficavam excluídos desta vasta rede de obrigações militares» (20).
Foi na verdade com este espírito de classe que se fez a história da época do liberalismo, espírito que orientou não sòmente Herculano nas suas investigações sobre as origens da classe que representou como intelectual e homem político, mas ainda os memoralistas da época, preocupados em registar os acontecimentos do seu tempo e em explicá-los de modo a justificarem-se e a valorizarem-se a si próprios.
O espírito de classe nos historiadores portugueses do liberalismo
Daí nos vem a perspectiva falseada que, sem ter passado pelo crivo da crítica, nos foi transmitida pela historiografia tradicional portuguesa. E a não termos em conta este factor, não há crítica histórica válida e é impossível avançar na investigação. Tomaremos por exemplo dois historiadores de época.
Um, Sousa Monteiro, datou de maneira significativa o prefácio da sua História de Portugal desde o reinado da Senhora D. Maria I até à convenção de Évora-Monte (21), ou seja no próprio dia da sangrenta repressão que, a 13 de Maio de 1838, permitiu dissolver as milícias populares de Lisboa e restabelecer a ordem burguesa, perturbada desde a Revolução de Setembro de 1836. O outro, já citado, Luz Soriano, cujo primeiro contrato para redigir a História da Guerra Civil foi firmado em 1861, tinha antes defendido o princípio da ditadura burguesa - «só com um governo firme, enérgico, se pode governar a fazenda» (22) - e mais tarde, no decorrer do seu trabalho, confirmou esta posição declarando que «não são as mais bem pensadas e democráticas instituições políticas as que fazem bons os governantes, mas ao contrário são os bons governantes os que fazem as boas instituições, ainda que tenham por si a opinião de serem as mais perfeitas» (23).
Estas posições doutrinárias permitem-nos compreender os conceitos que a historiografia tradicional burguesa utiliza, tentando representar o conjunto da nação segundo a óptica dos seus próprios interesses de classe. É uma posição anticientífica que levou os historiadores a dar de Portugal uma imagem mítica. E isto faz com que não possamos esperar deles uma perspectiva histórica correcta e objectiva dos acontecimentos do liberalismo português. Não é por acaso que autores tão fecundos como Sousa Monteiro e Luz Soriano fixaram como limite às suas memórias o ano do triunfo do liberalismo - 1834 -, embora ainda hajam vivido mais de meio século (Monteiro até 1881, Soriano até 1891), e não tenham deixado de escrever: ambos recusaram admitir a ascensão política e social da nova força que brotava do próprio seio da sociedade liberal, força que ultrapassava o quadro de valores contido na sua concepção burguesa da história.
Podemos fazer um reparo do mesmo género no que respeita a Oliveira Martins, o historiador romântico que publicou em 1881 o Portugal Contemporâneo. Pertencendo a uma geração posterior e tendo-se até vangloriado de ser socialista, já aí critica algumas contradições do liberalismo por vezes com muita lucidez. Todavia, se é certo que se ocupa das vicissitudes do liberalismo após a vitória de 1834, não analisa todo o processo da sua instauração, mas só a história da Carta Constitucional, quer dizer desde a sua outorga, em 1826, até à Regeneração que, de resto, definiu bem - «nome português do capitalismo» (24). Preocupado como se mostrou em evitar o período mais democrático do liberalismo português, o de 1820 a 1823, evitou por outro lado proceder a uma análise objectiva das crises posteriores tingidas de democracia, como a Revolução de Setembro e a Patuleia; muitas vezes misturava até reflexões metafísicas que a falseiam. Martins aparece assim como um «cartista» desiludido, e o seu relato, todo ele cheio de considerações melancólicas, identifica-se com a interpretação de outros «cartistas» igualmente desiludidos, como Alexandre Herculano, tentando a transferência da sua amargura política para o campo literário.
A importância histórica das lutas sociais durante o movimento liberal
Quem quer que busque uma base de trabalho sério e firme não pode, claro está, ficar vinculado a tais posições. Para obter-se uma perspectiva isenta de preconceitos, devemos reconhecer que, muito ao contrário do que pretendem os historiadores liberais, a burguesia nem sempre se encontrou sòzinha no campo da história durante a instauração do liberalismo. Não se tratou apenas de uma luta política, económica e militar contra a aristocracia do Antigo Regime; houve também lutas sociais e são estas justamente que formam o pano de fundo da época. Os historiadores liberais sempre avolumaram as primeiras em detrimento das outras, chegando mesmo a desprezá-las. Tentaram até escondê-las, apagá-las da memória colectiva do País, deturpando-lhe o carácter social incómodo e entroncando as suas origens, de forma aliás demasiado simplista, exclusivamente nas manobras conspiratórias dos «miguelistas», os partidários do Antigo Regime.
Tal maneira de proceder, que repudiamos pelo seu carácter manifestamente anticientífico, não convém a este estudo, em virtude mesmo da sua natureza: ao dissociar-se da base sociológica que permite em Portugal aceitar a ideologia socialista, o nosso trabalho perderia um dos seus principais suportes. Na verdade, para que um estudo destas influências não se limite a simples compilação ou a meras justaposições de textos, é preciso, antes, procurar no substrato das condições sociais a sua razão determinante.
Tentando ultrapassar as posições viciosas da historiografia liberal, e visto que a história do liberalismo está por fazer (não é esse, de resto, o nosso objectivo aqui) propomos oferecer neste trabalho uma perspectiva que permita interpretar melhor os acontecimentos evocados, preocupando-nos também em que responda às exigências da histori grafia moderna. A nossa perspectiva não coincidirá pois necessàriarnente com os esquemas tradicionais, mas será talvez, mais susceptível de abrir novas vias à investigação histórica e permitir-nos-á ainda - pelo menos esperamo-lo - compreender melhor as influências do pensamento socialista e suas limitações, em função da realidade social portuguesa.
De qualquer forma, para se apreender a perspectiva das origens de Portugal do século XX há que reservar na história um lugar à corrente popular e investigar-lhe autonomia e a especificidade.
I
O primeiro período liberal
As fases do processo de instauração do liberalismo
A burguesia liberal portuguesa só se instalou definitivamente no poder ao fim de catorze anos (1820-1834) de lutas por vezes renhidas e muito complexas, marcados por uma alternância de vitórias e derrotas. Os conflitos de interesses das diferentes classes e camadas sociais do País estavam por sua vez fortemente condicionadas pelas oposições ainda mais vivas das potências europeias. Estas disputavam entre si, já o sabemos, vantagens políticas e económicas, não apenas nos dois países da Península Ibérica, cuja importância estratégica se confirmara durante as campanhas antinapoleónicas (a Guerra Peninsular), mas também da América Latina, favorecendo os movimentos de independência das colónias de Portugal e da Espanha, para as abrir ao mercado capitalista internacional.
Podemos pois distinguir diferentes momentos no processo da instauração do liberalismo em Portugal: um primeiro período liberal (1820-1823) dominado pelas Cortes que decretaram as primeiras reformas e votaram uma Constituição; uma reacção absolutista (1823-1826), que aboliu a Constituição e anulou as reformas; um segundo período liberal (1826-1828), a seguir à morte do rei João VI, durante o qual se adoptou a Carta outorgada aos portugueses por D. Pedro, imperador do Brasil e herdeiro do trono de Portugal; uma nova reacção absolutista (1828-1834) que se desencadeou logo após o desembarque de D. Miguel, em Lisboa; e por fim a guerra civil (1832-1834), que terminou com a vitória definitiva dos liberais adeptos da carta outorgada por D. Pedro em 1826. Outras manifestações menores de guerra civil se verificaram, especialmente em 1823, 1826 e 1828.
Apesar da fraqueza revolucionária que, de maneira genérica, caracterizou o primeiro período liberal, em todo o caso foi ele o único que assinalou forte ímpeto democrático. Excedeu os objectivos demasiado modestos que os autores do levantamento militar desencadeado no Porto, no dia 24 de Agosto de 1820, tinham a si mesmos fixado.
Diversíssimas circunstâncias favoreceram a irrupção do movimento liberal em 1820.
Circunstâncias da eclosão do movimento liberal
Se os sentimentos de independência nacional eram profundamente feridos pelos poderes quase soberanos de que dispunha, entre nós, o marechal britânico Beresford (em 1817 as suas medidas de repressão não haviam poupado os quadros superiores do exército português e mandara executar o general Gomes Freire de Andrade e outros infelizes franco-mações acusados de conspiração), outras razões mais prementes surgiram desde o princípio do ano de 1820. Por um lado, acontecimentos externos: as vitórias liberais em Espanha e Nápoles; por outro, o agravamento da situação interna do País, quer a penúria económica que obrigou o Governo da Regência a prevenir o rei de uma ameaça de bancarrota (25) quer a agitação social que se manifestava por frequentes perturbações dos trabalhadores dos campos e das cidades que reivindicavam melhoria de salários (26). Além disso, o marechal britânico, embarcado no mês de Março para o Rio de Janeiro, acabava de obter do rei João VI (carta-patente de 29 de Julho) poderes ainda mais amplos que aqueles de que já antes dispunha.
Um «comité» clandestino criado no Porto, o «Sinédrio», soube aproveitar todas estas circunstâncias favoráveis ao desencadeamento do movimento político. Entre os treze membros que o constituíam (três juristas, três militares, cinco proprietários e comerciantes, dois aristocratas), há sobretudo dois, cujos nomes devemos reter: Manuel Fernandes Tomás, de 49 anos, e José da Silva Carvalho, de 38. Ambos juristas, pertenciam à média burguesia comercial e rural. O primeiro virá a ser uma das principais personalidades políticas das Cortes. O segundo, grão-mestre da Maçonaria desde 1822, far-se-á notar sobretudo no momento da vitória definitiva: financeiro e partidário do livre-câmbio, será um dos principais ministros de D. Pedro na época das reformas económicas mais positivas, em 1833 e 1834. Um terceiro membro do «Sinédrio» distinguir-se-á também nesta época: José Ferreira Borges, dois anos mais novo, autor do primeiro código comercial português (1833). Mas estes dois últimos rejeitaram completamente as tradições democráticas das Cortes, e Fernandes Tomás morreu pouco antes do golpe de Estado contra-revolucionário de 1823.
Apesar das condições favoráveis do movimento político, os membros do «comité» clandestino só com muita dificuldade conseguiram convencer os comandantes militares do Porto a assumir a iniciativa de 24 de Agosto, e está por esclarecer o que verdadeiramente os decidiu: se os argumentos dos conspiradores ou os mandatos de prisão expedidos na véspera pelo governo de Lisboa, já alertado. Em todo o caso, o magistrado encarregado pelo governo de os fazer cumprir (o «desembargador» Aires Pinto) concordou com um dos conspiradores (Fernandes Tomás) que se a cidade aceitasse o movimento, também ele o aceitaria; e, por outro lado, o governador militar (o general Canavarro) ausentou-se do Porto, para se libertar de toda a responsabilidade, tanto perante uns, como perante outros.
O movimento consistiu afinal numa parada militar seguida de missa e da leitura de proclamações. Ao anunciar a sua intenção de convocar as Cortes para se proceder à redacção de uma Constituição, os oficiais protestavam o seu respeito pelo «bom» e «benigno» rei João VI, «amante de um povo que o idolatra», ao mesmo tempo que exortavam as tropas a combater qualquer tentativa de agitação popular: «coadjuvai a ordem, coibi os tumultos, abafai a anarquia» (27).
Constitui-se depois uma «Junta Provisional» ou governo provisório, presidida por um militar (o brigadeiro António da Silveira) e incluindo representantes das classes dirigentes (o clero e a nobreza) e das diversas províncias do Norte, nomeadamente um professor da Universidade de Coimbra (Frei Francisco de São Luís).
Afastadas assim, deliberadamente, as camadas populares, as hesitações dos chefes militares e de uma parte da burguesia nem por isso deixaram de subsistir. Podemos avaliá-las pelas longas negociações que, a seguir, se efectuaram entre os representantes da «Junta» do Porto por um lado, e do governo da Regência por outro. Aconselhado pelo conde de Palmela, vindo de Londres a toda a pressa, o governo tentou mesmo neutralizar a atitude tomada pelos militares do Porto, anunciando também por sua vez, no dia 1 de Setembro, um projecto de convocação das Cortes (as Cortes já não eram efectivamente convocadas há mais de um século, exactamente desde 1693). Após esta tentativa de neutralização, a situação manteve-se equívoca até 15 de Setembro, dia em que um oficial liberal subalterno (Aurélio José de Morais) da guarnição de Lisboa, tornando posição no Rossio à testa de uma companhia, encorajou deste modo os outros corpos militares da capital, que logo se lhe juntaram, aclamados pela população. Tal iniciativa provocou, enfim, a queda definitiva do governo da Regência, estabelecido pela autoridade real.
Oposição da corrente popular e da corrente aristocrática
A lentidão da evolução dos acontecimentos revela a presença, no movimento liberal, de forças que se opunham e que acabaram por neutralizar-se reciprocamente. Na verdade, essas forças vão definir-se pouco a pouco: por um lado, uma burguesia comercial e média, apoiada pelas camadas populares das cidades, sendo as de Lisboa as mais activas; e uma burguesia aristocratizada, que representava a grande burguesia rural e que dispunha, em geral, das alavancas da administração pública e dos comandos do exército. É preciso notar que o presidente da «Junta Provisional» do Porto era irmão do conde de Amarante, grande senhor feudal do Norte, e que daí por diante ambos estarão entre os principais chefes da reacção antiliberal, assim como o comandante das tropas do Porto que marcharam sobre Lisboa, Gaspar Teixeira, o futuro visconde de Peso da Régua e comandante das tropas miguelistas.
Se uns e outros conseguiam pôr-se de acordo em relação a certas decisões, por exemplo, impedir em Outubro o desembarque do marechal Beresford, de volta do Rio de Janeiro, e obrigá-lo a prosseguir viagem em direcção à Grã-Bretanha, o facto devia-se a que nesse momento era ainda preciso evitar o que chamavam a «anarquia», isto é, a agitação popular que se poderia desencadear perante o regresso da odiosa personagem. E havia também o medo das represálias do marechal, pois que todos se sentiam fortemente comprometidos no movimento.
Cedo porém o conflito estalou, sob a forma de uma luta dos militares contra os civis (episódio da Martinhada). No dia 11 de Novembro, um golpe militar obriga à demissão os civis do governo provisório, especialmente Fernandes Tomás. Mas a 17 os civis respondem e retomam o lugar no governo. Alguns responsáveis do golpe militar são demitidos, entre eles o que fora presidente da «Junta do Porto», o brigadeiro Silveira, e o comandante Gaspar Teixeira; um capitão, que mais tarde se tornará célebre com o nome de marquês Sá da Bandeira, é preso e, alguns meses mais tarde, expulso do País.
É a partir deste conflito que o movimento toma um sentido democrático, pois que, para consolidar a vitória sobre a facção mais conservadora, a outra facção devia apoiar-se nas camadas mais radicais. O novo governo decide então convocar as Cortes, não conforme a tradição da antiga Monarquia, englobando as três Ordens, como a Academia das Ciências preconizava, mas segundo o modelo das Cortes espanholas - reunião de todos os deputados nomeados pelos próprios cidadãos.
As eleições realizaram-se pelo processo do sufrágio universal, embora indirecto (três graus), considerando-se elegível todo o cidadão com mais de vinte e cinco anos.
A acção reformadora das Cortes
Reunidas desde o fim do mês de Janeiro de 1821, as Cortes tomaram então as mais importantes decisões, em presença do largo público que invadia as galerias para aplaudir ou apupar os deputados. Se é certo que esta atitude encorajava as tendências para a demagogia, não resta a menor dúvida que foi durante os primeiros meses que a Assembleia Constituinte, presidida por Fernandes Tomás, adoptou as medidas e as reformas mais notáveis, depois de haver repelido as pressões do governo britânico no sentido de adoptar uma Constituição moderada, cingida ao modelo da Carta outorgada em França por Luís XVIII. As Cortes adoptaram, ao contrário, as bases de uma Constituição nos moldes espanhóis (Constituição de Cádis, 1812), optando por uma só Câmara, e recusando ao rei o direito de veto.
Seguidamente, as Cortes abordaram as mais profundas reformas: abolição das banalidades, ou seja os privilégios feudais que incluíam as corveias, aposentadorias, rendas, portagens, direitos de mão-morta, monopólios da caça e da pesca, privilégios do relego e da fogaça, etc.; supressão da Inquisição, da censura prévia e dos tribunais especiais; eliminação das antigas milícias e redução das dízimas; incorporação, no Tesouro Público, dos bens nacionais; liberdade de ensino e de abertura de escolas, etc.. Outras medidas traduziam significado nacionalista e sobretudo antibritânico: supressão das regalias concedidas aos produtos ingleses (estabelecidas pelo tratado de comércio de 1810), e interdição do exercício de funções públicas a estrangeiros, o que afastava muitos oficiais britânicos alistados no exército português.
Enfim, as Cortes exerceram uma espécie de vigilância revolucionária. Primeiro, denunciando a conspiração diplomática a que se entregavam os representantes do Antigo Regime, na tentativa de obterem a intervenção das potências estrangeiras para abafar o movimento liberal em Portugal: João VI viu-se obrigado a publicar uma declaração sobre o assunto, condenando formalmente todos os desígnios de intervenção. Outro episódio significativo surge na altura do regresso a Lisboa da família real, no mês de Julho. Alguns obstáculos se opuseram então ao desembarque de certos membros do séquito do rei, especialmente o conde de Palmela, forçados mais tarde a manterem-se afastados da capital. Mesmo que o primeiro acto do rei, após o desembarque, tenha sido o de se dirigir às Cortes para prestar juramento, nas bases da Constituição já aprovada, uma tentativa em favor do restabelecimento da autoridade real foi nesse momento votada ao fracasso, em virtude da oposição suscitada pelo discurso pronunciado, em nome do monarca, por um dos ministros (Silvestre Pinheiro Ferreira), que por esse motivo se viu compelido à demissão imediata.
Contradições e inconsequências das Cortes
Outras forças, contudo, se manifestavam no próprio seio das Cortes, opondo-se entre si. Estas oposições eram provocadas pela origem social dos deputados, e resultavam do processo eleitoral em três graus, pelo qual a composição da Assembleia não correspondia às tendências manifestadas pelos eleitores de base. Se nos dois primeiros graus (eleitores de freguesia e de comarca) os comerciantes e os juristas foram eleitos em maior número, no terceiro grau (eleitores de província) a burguesia rural conseguiu esmagadora vitória. Apontemos as classes profissionais dos 100 deputados eleitos (28):
39 magistrados e juristas
21 professores e elementos das profissões liberais
16 membros do clero
10 militares
6 médicos
5 proprietários
3 comerciantes
Vemos pois que a Assembleia representava quase exclusivamente os interesses da burguesia rural, visto que, na generalidade, os militares, os magistrados, os professores (da Universidade) e os membros das profissões liberais também pertenciam à classe dos proprietários e, mais precisamente, dos proprietários de terras (29). A burguesia industrial não estava, pelo contrário, representada; e até a burguesia mercantil, que muito contribuiu para o desencadeamento e o triunfo do movimento liberal, só ocupava nas Cortes uma posição minoritária, situando-se quantitativamente em último lugar.
O exame desta composição da Assembleia Constituinte permite-nos compreender as contradições e as inconsequências das Cortes. Não tendo o movimento liberal português começado por uma vasta insurreição popular, como foi o caso da Revolução francesa ou da primeira Revolução liberal espanhola, as contradições internas da burguesia limitaram muito o alcance dos seus objectivos reformadores. É preciso atentar nestas contradições e nas constantes mudanças das relações de forças se quisermos compreender bem os êxitos, tal como os fracassos, do liberalismo em Portugal.
Assim, por exemplo, não conhecendo a predominância dos proprietários de terras no seio das Cortes, teríamos muita dificuldade em admitir que uma Assembleia liberal e que se propunha encaminhar o País para o liberalismo, houvesse tomado medidas tão hostis ao liberalismo económico como as do proteccionismo aduaneiro, as quais incluíam o embargo formal à importação de produtos agrícolas - cereais, azeite, porcos, vinho, licores, etc.. Conhecendo-se porém a constituição das Cortes, compreende-se que os proprietários quisessem vender por bom preço os produtos das suas terras, afastando toda a concorrência susceptível de os prejudicar.
Essas medidas opunham-se, todavia, aos interesses da burguesia industrial e artesanal, empenhada, por seu turno, em evitar a subida dos preços dos produtos alimentares, o que arrastaria fatalmente consigo a insuficiência dos salários e o agravamento da situação social.
O problema colonial
As contradições e as inconsequências da burguesia liberal são particularmente notórias no que respeita ao problema colonial ou seja, na época, a questão da independência do Brasil, que preponderará, cada vez mais, na Assembleia Constituinte.
De início, manifestara-se perfeito acordo entre os movimentos liberais em Portugal e no Brasil; as revoltas populares no Rio de Janeiro (Fevereiro de 1821) haviam obrigado João VI a regressar a Lisboa e a aceitar o governo das Cortes. Mas depois os liberais deixaram de conformar-se com os proclamados princípios de liberdade, e será no meio de gritos: À ordem! À ordem!, lançados pelos deputados, que Fernandes Tomás declarará solenemente:
- «Se o Brasil se quiser desligar» ninguém o pode embaraçar, pois é um direito que tem todo o povo de escolher a forma de governo que melhor lhe convier.» (30)
Em face da questão colonial defrontavam-se, do lado português, duas concepções que correspondiam a duas atitudes a respeito dos problemas políticos - a dos liberais e a dos antiliberais. Embora concordantes num aspecto - o de pretenderem manter os laços que uniam aquela colónia à metrópole -, os dois partidos tinham pontos de vista opostos quanto aos meios de o conseguir. Para os primeiros tratava-se de reconhecer a legitimidade das revoluções liberais nas províncias do Brasil, tentando conservar sempre o laço político entre estas e Portugal. E tendo, efectivamente, visado a formação de um império luso-brasileiro (proposta apresentada nas Cortes por uma comissão especial, em Julho de 1822), acabaram por aderir à fórmula, mais modesta, de «Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves», utilizada na Constituição enfim aceite a 23 de Setembro de 1822.
Para os antiliberais, conforme provam muitos acontecimentos posteriores ao golpe militar contra-revolucionário da Vilafrancada, o intuito consistia em conservar o Brasil sob o domínio da Casa de Bragança, mesmo que para tal fosse preciso constituir um reino independente. Eis porque, no momento da partida para a Europa, o monarca deixou seu filho mais velho, Pedro (22 anos), como regente do Brasil (31). As Cortes de Lisboa, suspeitando do papel reservado ao príncipe, pretenderam contrariar este propósito: primeiro excluíram Pedro da dotação civil da família real; em seguida eliminaram a regência do Rio de Janeiro.
Mas as Cortes caíram logo numa contradição notória, pois tendo estabelecido que as províncias do Brasil deviam ser governadas, e aliás provisòriamente, por «Juntas» eleitas pelos habitantes, pretendiam no entanto conservar o monopólio do governo militar, o que não podia senão conduzir a um conflito que aproveitava aos antiliberais. Foi o que se passou a partir do momento em que as Cortes ordenaram (Setembro de 1821) o regresso de Pedro à Europa.
Com efeito, por esta mesma altura os diplomatas absolutistas portugueses entabularam, em Paris, negociações secretas, no termo das quais o marquês de Angeja, agente particular de João VI, foi enviado com instruções ao Rio, para exortar Pedro a resistir às Cortes (32). E na realidade, a despeito dos seus anteriores protestos de fidelidade a estas últimas (33), Pedro confirma então o seu propósito de ficar no Brasil e começa a maltratar as tropas e os portugueses que aí viviam, ordenando mesmo a boicotagem dos produtos do comércio português, até chegar à proclamação da independência (7 de Setembro de 1822) e à sua própria ascensão a imperador (12 de Outubro de 1822).
As Cortes, que assim não foram capazes de resolver o problema do Brasil, em concordância com os princípios de liberdade que elas mesmas proclamaram, também, por outro lado, não souberam dar satisfação às aspirações das camadas sociais mais numerosas, em particular o pequeno campesinato e os rendeiros, oprimidos pelo sistema feudal dos forais.
O problema dos «forais» e o descontentamento popular
Os forais eram direitos e privilégios de tipo feudal de que os senhores das terras usavam e abusavam contra aqueles que as trabalhavam ou ocupavam; instituídos quase todos na época da Reconquista da Península, representavam, nesses tempos, leis territoriais e locais (o foral era também uma carta municipal, carta de povoamento), geralmente outorgadas pelos reis. Os benefícios dos forais cabiam aos donatários - autoridades religiosas, nobres, chefes militares - e consistiam em obrigações, encargos e tributos de variadíssimas espécies, fixos ou proporcionais, tais como quotas, censos, foros, jugadas, eirádigos, teigas de Abraão, etc. O sistema vexava desde há muito os camponeses, pois tais encargos persistiam mesmo depois de o Estado haver estabelecido as suas próprias contribuições. Por diversas vezes, desde as Invasões francesas e da primeira Revolução liberal espanhola, fora anunciada a sua reforma; em 1810 até o monarca reconhecia que os forais eram «em algumas partes do Reino um peso intolerável» (34) mas a referida reforma, sucessivamente confirmada em 1811, 1812 e 1815, não foi porém posta em prática durante o regime absolutista.
Sob o regime liberal a reforma dos forais só veio a ser decretada em Junho de 1822, mas decepcionou enormemente o pequeno campesinato dos rendeiros. Limitava-se, com efeito, a reduzir em metade as pensões e os foros estipulados, e ainda assim de forma equívoca, ao converter as rendas ou censos variáveis em prestações fixas e convertíveis em dinheiro. Não tendo estas sido fixadas, uma tal disposição abria caminho a novos abusos. A reforma trazia bem a marca da classe social a que pertenciam os deputados que a haviam votado, os proprietários de terras, e deu lugar a muitas reclamações.
O problema dos forais será sempre, deste modo, um tema de disputa dentro do liberalismo, pois a burguesia rural estava quase tão ligada aos privilégios da propriedade fundiária como a nobreza do Antigo Regime. É certo que este apego faz parte da própria essência do conceito de burguesia. Mas para aqueles que deviam continuar a pagar, as dificuldades subsistiam e, por conseguinte, a sua oposição ao novo regime devia aceitar-se como um fenómeno perfeitamente natural.
Se a insuficiência da reforma de 1822 provocou profundo descontentamento popular nos campos, a ausência de medidas em favor dos trabalhadores em geral - pequenos cultivadores e assalariados rurais -, assim como a não participação da maioria do campesinato nos benefícios da venda dos bens nacionais, privaram a burguesia liberal do apoio da pequena burguesia e do proletariado dos campos e das cidades. Não se procedeu, tal como acontecera em França e em Espanha, à formação de uma pequena e uma média burguesias, interessadas na defesa do novo regime. O liberalismo ofendeu, pelo contrário, alguns direitos tradicionais como, por exemplo, aqueles que se relacionavam com os baldios (35), terrenos vagos e incultos anteriormente utilizados pela comunidade, os quais foram na maior parte apropriados por intermédio dos municípios. A burguesia liberal isolou-se, desse modo, da maioria da população portuguesa.
Além disso, se a Constituição votada consagrava o princípio segundo o qual a soberania reside na nação inteira e a lei é igual para todos os cidadãos, a nobreza do Antigo Regime não foi efectivamente despojada do seu poderio económico e da sua influência na sociedade: a eleição de novos deputados para as Cortes de 1823 trouxe a elas partidários do Antigo Regime (Acúrcio das Neves, por exemplo).
E assim, ao impulso democrático e ao desejo de soberania nacional que caracterizaram os primeiros tempos do liberalismo, sucedeu, em 1823, favorecido pela conjuntura internacional, o movimento contra-revolucionário da Vilafrancada.
O golpe de Estado da «Vilafrancada»
O objectivo expresso deste golpe de Estado era substituir a Constituição por uma Carta. Na realidade, porém, sustentavam-no fortes interesses estrangeiros que não tardaram a surgir à luz do dia. Os países da Santa Aliança tinham efectivamente decidido, no Congresso de Verona, durante o Outono de 1822, confiar à França a missão de restabelecer em Espanha o estado de coisas anterior à Revolução de Cádis (36). As exigências estratégicas e políticas da expedição militar francesa, por um lado, e, por outro, a vontade da Inglaterra em retomar a sua influência na vida política portuguesa, de que fora afastada em 1820, facilitaram a negociação do governo francês de Villèle com o governo britânico de Canning, cuidadosamente conduzida por Chateaubriand (37). Garantiu-se, deste modo, a neutralidade inglesa relativamente à ocupação do território espanhol em troca do reconhecimento do predomínio inglês em Portugal, à sombra da velha aliança.
Que foi então a Vilafrancada?
Não podemos aceitar a versão demasiado simplista, mas muito generalizada, que a apresenta, pura e simplesmente, como uma «revolução» absolutista dirigida pelo infante Miguel (21 anos). Foram, pelo contrário, os liberais pertencentes à fracção direitista que deram o golpe de misericórdia no sistema representativo, ao apoiarem João VI quando este, seguindo o exemplo do filho mais novo, revoltado, se dirigiu a Vila Franca para aí nomear novo governo e proclamar a abolição das Cortes. A mesma posição reaccionária, de resto, já anteriormente se observara na altura da Martinhada e do regresso da família real do Brasil. São geralmente os políticos e militares que então actuaram os que agora figuram com preponderância nos acontecimentos da Vilafrancada.
É fora de dúvida que os absolutistas do Antigo Regime estavam na raiz dos levantamentos militares do Norte do País, na província de Trás-os-Montes onde a família Silveira, que os chefiava, tinha as suas terras. Tais levantamentos deram-se na véspera da travessia dos Pirenéus - Primavera de 1823 - pelas tropas do duque de Angulema. Mas intensa agitação sacudiu os centros políticos e democráticos da Península, sobretudo nas cidades, tanto em Espanha como em Portugal. E se o gabinete britânico contrariou uma aliança peninsular, encarada pelos dois governos liberais, as Cortes de Lisboa proclamaram todavia a urgência da formação das Guardas Nacionais e concederam ao governo poderes especiais para combater as tentativas sediciosas. Por falta de apoio, os insurrectos de Trás-os-Montes falharam e foram obrigados a fugir para o território espanhol onde, aliás, as tropas francesas só lentamente avançavam.
Mas o primeiro golpe de força militar da Vilafrancada apenas se desencadeou no fim do mês de Maio, precisamente três dias depois da entrada do duque de Angulema em Madrid. Outros se lhe sucederam no decorrer da semana de 27 de Maio a 3 de Junho. O inicial, no dia 27, foi chefiado pelo infante Miguel, que se instalou com tropas em Vila Franca e publicou um manifesto anunciando o seu desígnio de substituir a Constituição por uma Carta outorgada. Se bem que o infante garantisse não pretender restabelecer o despotismo, a tentativa não alcançou êxito em virtude da oposição popular bastante forte que encontrou. Dez corpos da Guarda Nacional e dos Voluntários do Comércio pegaram então em armas, respondendo ao apelo da municipalidade de Lisboa (38). As Cortes, outra vez em presença de numeroso público, declararam-se em sessão permanente, e o rei teve de lhes reiterar a sua fidelidade.
Entretanto o infante e as tropas que o acompanhavam afastaram-se para Santarém na noite de 27. A 28, em Lisboa, sempre com o fito de substituir a Constituição por uma Carta, preparou-se um segundo golpe de força, chefiado pelo comandante militar da corte, o general Sepúlveda. O povo lisboeta estava porém vigilante; no dia 29 o general foi apupado nas ruas da capital, antes que tivesse podido pôr em execução o novo projecto sedicioso (39); e pela noite iria juntar-se a Miguel que, de resto, o mandou prender à chegada a Santarém. Nestas circunstâncias o rei teve de proclamar, uma vez mais, em 30 de Maio, a sua fidelidade à Constituição (40).
É na noite desse mesmo dia que se produz a terceira tentativa. O rei foi, por seu turno, instalar-se em Vila Franca (41), onde, a 31, anunciou finalmente alterações constitucionais, cuja proclamação (42), afixada nas ruas de Lisboa, será logo rasgada pelo povo em revolta. No entanto os revoltosos, ainda que decididos a prosseguir a luta, não encontraram, entre os deputados das Cortes, ninguém que soubesse dirigir a resistência. Pelo contrário: havendo o rei, em 1 de Junho, nomeado novo governo, os deputados decidiram exprimir o seu protesto de forma insólita, suspendendo no dia seguinte as sessões. Tal resolução não podia servir de melhor modo as intenções reais. E João VI apressou-se na realidade, a decretar a extinção das Cortes, considerando apropriadamente que, uma vez que os autores da Constituição haviam procedido eles mesmos à dissolução de facto do Congresso, ele, monarca, o fazia de direito (43).
Nesse dia, 2 de Junho, desenrolou-se um novo episódio do golpe de Vila Franca; o rei e a corte acolheram ali, com grande regosijo, o infante Miguel. Este tentara recusar reunir-se a seu pai, mas o novo ministro da Guerra, o general Pamplona, encontrou argumentos convenientes para o fazer mudar de parecer: o monarca nomeia então o filho comandante do exército. Pamplona, que fora deputado nas Cortes de 1821-1822 e que vivia nas suas propriedades de Subserra, muito perto de Vila Franca, foi assim um dos primeiros conselheiros de D. Miguel (44). Foi ele também, de parceria com o camarista de João VI, o marquês de Loulé, quem determinou a partida do rei para Vila Franca após o malogro dos dois primeiros golpes militares (45).
A nomeação do infante visava a captar os sectores mais extremistas do absolutismo que se queixavam da traição do general Pamplona. (Este, com efeito, preso quando Miguel se apoderou do trono, em 1828, acabaria os seus dias na prisão, poucos anos depois.)
O papel da direita liberal
O golpe de Estado da Vilafrancada patenteia-se pois como tendo sido um acto cuidadosamente preparado pela ala direita liberal, acolitada por todos quantos eram também inimigos das Cortes e da Constituição. Tal o significado do primeiro golpe militar e da proclamação do infante, logo que este anunciou a substituição da Constituição por uma Carta. Embora mais tarde Miguel surja vinculado ao partido dos absolutistas extremistas do Antigo Regime, cuja personagem mais em destaque era sua mãe, a rainha Carlota Joaquina, a verdade é que, primeiramente, os liberais da direita tentaram triunfar com o seu apoio. Podemos mesmo imaginar uma aliança entre as duas correntes, ligadas por comum hostilidade às Cortes, mas opostas quanto à orientação a seguir depois. Bem frágil aliança, de resto! Imediatamente se quebrou em face da resistência popular, procurando então, uns e outros, vencer separadamente. E eis também o significado que podemos atribuir à recusa inicial do infante em se apresentar ao pai depois de este o haver substituído em Vila Franca.
Perante a maneira como os acontecimentos se desenrolaram, o golpe de Estado torna bem saliente um dos caracteres mais incisivos do liberalismo português: a encarniçada hostilidade da grande burguesia liberal por toda e qualquer expressão democrática na vida política. Trata-se de um antagonismo que define todo o período do liberalismo em Portugal. Os grandes proprietários de terras, os chefes militares e, enfim, na sua generalidade, a nobreza liberal são, nessa época, e sê-lo-ão sempre - havemos de verificá-lo -, os mais tenazes inimigos das aspirações populares, tanto no domínio político como no económico.
Quem desde então enfileira, na realidade, ao lado do rei contra as Cortes, a Constituição e as manifestações populares de Lisboa? Precisamente essas altas personalidades que, mais tarde, serão apresentadas como símbolos do liberalismo português: Palmela, Vila Flor (duque da Terceira), Saldanha, Sá da Bandeira, Mousinho da Silveira, para só falar nos mais importantes, pois muitos outros há, menos conhecidos. Hostis ao sistema das Cortes desde 1820, vejamos que papel desempenharam nos acontecimentos da Vilafrancada e que favores vieram a receber do monarca.
Palmela acabava de ser nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros do novo governo constituído em Vila Franca, ao lado do general Pamplona, ministro da guerra. Esta composição ministerial corresponde ao acordo franco-inglês, sendo o general tão afecto ao governo francês como o conde de Palmela ao gabinete britânico. O rei que, nesse momento, dá ao ministro da Guerra o título de conde - conde de Subserra -, promove Palmela à categoria de marquês.
Quanto a Vila Flor, então designado «ajudante de ordens» de D. Miguel, foi encarregado de missão especial junto do duque de Angulema: oficialmente, para lhe apresentar as saudações de João VI.
O brigadeiro Saldanha, que ao eclodir o movimento sedicioso se encontrava preso à espera de julgamento em conselho de guerra, por desobediência, viera todavia reunir-se ao infante Miguel, em Santarém (46), e foi depois empossado no cargo de comandante militar da província do Alentejo.
Sá da Bandeira, na altura ex-capitão Bernardo de Sá Nogueira, destituído e exilado após a Martinhada, voltara de França mesmo na véspera dos acontecimentos e participou, pelo menos, no conselho militar a fim de organizar, com o general Sepúlveda, o segundo golpe falhado (47).
Recebe em seguida, como testemunho de reconhecimento do monarca, o primeiro dos seus títulos: «moço fidalgo da casa real».
É também o momento em que, para dar satisfação a uns e outros, o rei concede medalha especial (a que então se chamou medalha da poeira) a todos quantos lha pediram, independentemente das posições que anteriormente haviam assumido. Muitos liberais de renome a solicitaram, caso, por exemplo, de Custódio José Xavier, ministro na época das Cortes e que será também um dos primeiros-ministros de D. Pedro, no começo da guerra civil.
Mousinho da Silveira, esse foi um dos homens fortes que, ao lado do rei e contra as Cortes, garantiram, em larga medida, o êxito do golpe de Estado. Nomeado ministro numa remodelação governamental em seguida ao primeiro golpe de Estado fracassado, pressionou o monarca, depois de este se ter instalado em Vila Franca, para que assinasse a proclamação de 31 de Maio (48). Foi ele quem referendou essa mesma proclamação, anunciando a mudança do estatuto político e constitucional (49). Procurou de igual modo, por toda a espécie de meios, conseguir a capitulação dos rebeldes (50). E ocupou-se ainda da repressão, assim como em fazer aceitar aos ministros hesitantes a incontestabilidade da autoridade real (51). De resto, ele afirmara a sua hostilidade às Cortes desde a adopção das bases da Constituição (52). E se depois é afastado do ministério, recebeu no entanto a «medalha da poeira», foi agraciado com o título de conselheiro e nomeado, em 1825, «fidalgo da casa real».
A influência das grandes potências
Vemos pois que os liberais mais notáveis tanto participaram no golpe de Estado da Vilafrancada como beneficiaram das provas de consideração que o rei prodigalizou em seguida, embora a Carta constitucional, anunciada em Vila Franca, jamais houvesse sido outorgada em vida de João VI.
Em contrapartida os efeitos desse golpe de Estado, que em Portugal se traduzem pela anulação das reformas decretadas pelas Cortes, não tardam em repercutir-se no país vizinho. Felicitando o duque de Angulema, o ministro francês conde de Villèle afirmava de Paris numa carta de 14 de Junho: «Esta revolução de Lisboa deve acabar com a de Espanha.» (53). E efectivamente o duque, que nesse mesmo mês se lamentava ainda - «mantemos a paz e o sossego com muita dificuldade», «seriam precisos 500.000 homens para ocupar toda a Espanha e eu só tenho 100 000» (54) - pôde verificar a indiferença dos liberais portugueses para com os liberais espanhóis e até encarar o concurso das forças portuguesas no bloqueio marítimo da praça de Cádis (55), primeiro foco e último bastião do liberalismo na Península, finalmente dominada, nos últimos dias do mês de Agosto, após encarniçada resistência.
Vencido o impulso liberal e nacionalista nos dois países ibéricos, encerra-se o ciclo da soberania nacional, aberto em 1820, e a rivalidade das grandes potências da Europa representa de novo papel determinante na evolução dos acontecimentos políticos internos. O duque de Angulema perguntava, de Madrid, ao governo de Paris, em 27 de Junho: «Que conduta devo ter para com Portugal? Devo aceitar os oferecimentos do Sr. Silveira» (de Trás-os-Montes), «apoiados pela Rússia?» (56) O conde de Martignac, que pertencia ao quartel-general do duque, dizia, por seu turno, a 2 de Julho: «O Sr. Silveira, que vejo algumas vezes e que não é, de maneira nenhuma, inglês, liga grande importância às relações diplomáticas que devem estabelecer-se entre a França e Portugal.» (57) Se estas duas cartas traduzem as preocupações do lado francês, os interesses do campo britânico exprimiam-se de maneira mais directa.
Podemos avaliar o grande empenho dos ingleses na mudança das instituições políticas em Portugal pela sua pressa em conceder ao novo governo um empréstimo, cujos fundos nunca, aliás, serão aplicados no quadro da administração pública (58). Ao mesmo tempo que em Londres se firmava tal empréstimo (Outono de 1823), o marechal Beresford voltava, por sua vez, a instalar-se em Lisboa, onde iria, de certo modo, contribuir para precipitar a aventura extremista de D. Miguel, em Abril de 1824, ou seja no golpe militar da Abrilada (59). O choque de interesses entre a Grã-Bretanha e a França é bem evidente neste assunto; custou ele aos liberais portugueses muitas perseguições: e só veio a solucionar-se com a intervenção do corpo diplomático acreditado em Lisboa, sob a iniciativa e direcção do representante francês, o barão Hyde de Neuville.
Esforçando-se a Grã-Bretanha por tornar irreversível a separação do Brasil e das outras colónias da América Latina, a rivalidade franco-britânica, em correlação com a rivalidade austro-russa, surgiu de novo, à luz do dia, em Portugal, onde não se falava senão no partido «dos franceses» e no «dos ingleses». A expressão mais significativa desta circunstância é talvez a forma como se desenrolou e terminou a missão diplomática do barão de Neuville, afastado de Lisboa na véspera de mudanças ministeriais (princípio de 1825), inteiramente inspiradas pelo gabinete britânico. Foi neste contexto dos choques de interesses opostos das grandes potências europeias que se desenvolveu a política portuguesa após a dissolução das Cortes.
O assassínio do marquês de Loulé e a Abrilada, em 1824, de que resulta a expulsão do País do infante Miguel; em 1825, a missão do inglês Sir Charles Stuart a Lisboa, onde obtém do rei o reconhecimento da independência do Brasil (carta patente de 19 de Maio), e depois ao Rio de Janeiro (tratado de aliança e de paz - 20 de Agosto) para negociar com o imperador, investido de duplos poderes - os que lhe foram confiados, por um lado, pela coroa britânica, por outro, pelo rei de Portugal; o grave conflito diplomático que daí resulta, opondo durante breve período as duas coroas aliadas (princípios de 1826); a morte súbita e muito suspeita de envenenamento do rei João VI (Março de 1826); e, por fim, a concessão aos Portugueses, pelo imperador do Brasil, de uma Carta constitucional trazida a Lisboa pelo mesmo Charles Stuart, a qual, todavia, era conhecida em Paris antes de ter chegado a Portugal (60), enquanto em Madrid os negócios portugueses eram igualmente confiados a um ministro britânico (61) - todos estes acontecimentos políticos constituem um processo que terminou, no exterior, pela consolidação do novo Estado brasileiro que assinou tratados de comércio com a Inglaterra (Outubro de 1825) e a França (Janeiro de 1826); e, no interior, pela crise de sucessão que opôs, numa guerra civil, os liberais cartistas aos absolutistas do Antigo Regime. Nem uns nem outros, porém, contestavam a legitimidade da sucessão de D. Pedro (62); e aceitaram, sob a sugestão e a pressão dos governos austríaco e inglês, conciliar os antagonismos, casando a filha de Pedro, Maria da Glória (7 anos), com o tio Miguel (63), que foi nomeado lugar-tenente de seu irmão em Portugal (64).
II
A grande burguesia liberal
A Carta constitucional portuguesa e a política britânica
A grande burguesia liberal, que desde 1820 firmemente se opôs a qualquer manifestação do espírito democrático, veio, por seu turno, esbarrar nas contingências da conjuntura internacional, hostis até 1830 à difusão do liberalismo no Oeste da Europa.
A Carta constitucional que D. Pedro acabava de outorgar em 1826 não ia ser, de resto, um instrumento favorável à democracia. Primeiro, porque se apresentava como concessão real - intenção claramente acentuada numa proclamação da Regência de Lisboa: «Não é uma concessão arrancada pelo espírito revolucionário, é um dom espontâneo do poder legítimo de Sua Magestade, meditado na sua profunda e real sabedoria.» (65). Depois porque era a Carta mais monárquica da época (66). Adoptando o bicamaralismo (com sufrágio indirecto e censitário para a câmara dos deputados, e nomeação real vitalícia e hereditária para a dos pares), o rei atribuía a si mesmo a qualidade de chefe do poder executivo, que seria exercido pelos seus ministros. Desta forma, o governo não era responsável perante o parlamento, mas perante o próprio rei.
Recebida em Portugal por intermédio da diplomacia britânica, a Carta revelar-se-ia, além disso, um instrumento de que o governo de Londres iria servir-se para defender os seus interesses. Com efeito, sendo a outorga desta Carta (29 de Abril) acompanhada (a 2 de Maio) pela renúncia de D. Pedro à sucessão do trono português, a Grã-Bretanha obtinha por este único facto uma confirmação da separação definitiva do Brasil e Portugal; podia ainda, do mesmo modo, apresentar-se aos legitimistas no papel de respeitadora das regras da sucessão, e aos liberais como tendo favorecido a outorga de uma Carta constitucional.
Mas tal atitude preparando o futuro, fosse ele qual fosse - liberal ou legitimista - ficaria condicionada pelas conveniências posteriores da diplomacia. Ora, os decretos de D. Pedro provocaram uma reacção desfavorável por parte de algumas chancelarias europeias, especialmente a austríaca e a russa. A Espanha, por seu lado, favoreceu os inimigos do sistema constitucional facilitando-lhes a organização política e militar no seu próprio território. O governo britânico devia pois desinteressar-se da defesa da Carta, na medida em que isso lhe permitiria obter outras vantagens algures.
É certo que um governo constitucional se formou em Lisboa a partir do mês de Agosto de 1826, e que as Cortes foram também convocadas. Mas, para tudo se dizer, devemos acrescentar que se preparava uma revolta na capital no momento em que um golpe de Estado, em 31 de Julho, impôs a Carta (67), chamando ao governo o chefe militar que a reclamava, o general Saldanha; e que as Cortes, que só representavam as facções sociais e políticas mais conservadoras, não empreenderam uma única reforma, pois a iniciativa ou a orientação dos acontecimentos pertenciam, nessa altura, sempre à diplomacia britânica. Seria precisa muita ingenuidade para crer nas histórias espalhadas pela tradição liberal quanto ao carácter e à versatilidade dos homens políticos da época. Por esse artifício procuram justificar todas as mudanças inesperadas e posições contraditórias que então se verificaram.
No Outono de 1826, Canning, em viagem a Paris, restabeleceu o acordo anglo-francês quanto à Península Ibérica, de maneira a permitir à Grã-Bretanha o envio a Portugal de uma expedição militar (a expedição Clinton) para o «defender» de uma possível «agressão estrangeira». São estes os termos empregados pelo ministro inglês na Câmara dos Comuns, quando, em 12 de Dezembro, acusava a Espanha de haver violado os seus compromissos para com a França e a Inglaterra (68).
Uma tal tomada de posição no Oeste da Europa não era estranha à Questão do Oriente que na altura agitava a Europa inteira e favorecia a independência da Grécia. A Questão agravava-se até com o advento do novo czar da Rússia, Nicolau I, o qual, repudiando a solidariedade da Santa Aliança para reatar a tradicional política expansionista em direcção aos Balcãs e aos Estreitos, acabava de reclamar à Turquia (Março de 1826) a autonomia das províncias danubianas do antigo Império otomano. Tornando-se, por conseguinte, a Áustria e a Grã-Bretanha aliadas naturais em face das pretensões russas, a diplomacia britânica consolidou esta aliança oriental, contemporizando com Metternich a respeito dos assuntos do Ocidente, em particular no relativo à sucessão do trono português e ao apoio austríaco concedido a D. Miguel, que vivia então na corte de Viena.
As conversações anglo-austríacas, que estão na base do decreto de D. Pedro, de Julho de 1827, a nomear o irmão seu lugar-tenente em Portugal, conduziram, após a morte de Canning (Agosto de 1827) aos protocolos secretos assinados em Viena no mês de Outubro de 1827: as duas potências estavam de acordo quanto ao regresso do infante português a Lisboa, mediante a garantia, inteiramente convencional, de um juramento à Carta. Para bem mascarar este caso, ficou combinado, além disso, que D. Miguel faria a viagem por Londres, onde, de resto, foi assinado um empréstimo com a casa Rothschild e o aval do governo britânico, então chefiado pelo duque de Wellington. Este era tão fervoroso partidário de uma monarquia absoluta em Portugal quanto o seu antecessor, Canning, era defensor intransigente dos interesses imperialistas da Grã-Bretanha. Sempre por instigação da Áustria e da Inglaterra, um decreto assinado no Rio de Janeiro a 3 de Março de 1828 vinha finalizar todo este assunto com a renúncia completa e definitiva do imperador D. Pedro ao trono português, em favor de sua filha.
Contudo, em Portugal, reinava a dúvida e a incerteza; e também a desconfiança, nos sectores liberais, a respeito desta Carta, mesmo quando uma esquadra britânica se apresentasse como sua fiadora a escoltar o infante até ao Tejo. A situação só começou a esclarecer-se após o desembarque de D. Miguel (Fevereiro de 1828). As manifestações dos seus partidários denunciavam, sem equívoco, a intenção de restaurar a monarquia absoluta. E foi precisamente nessa altura que a expedição militar britânica partiu, deixando que os factos se consumassem no sentido indicado. O protesto apresentado, depois, em Lisboa, pelos embaixadores de Inglaterra, da Áustria e de outros países, exprimindo uma reprovação protocolar, não passou de uma formalidade e em nada modificou a situação política portuguesa.
A sorte de Portugal fora sacrificada aos interesses de uma estratégia europeia global, orientada pelas potências que se opunham às pretensões russas nos Balcãs. Para bem marcar o estado de tensão internacional provocado na época pela Questão do Oriente, é interessante assinalar uma coincidência: D. Miguel foi aclamado rei absoluto pelos senados municipais de Lisboa, de Coimbra e de Aveiro na mesma data, 26 de Abril, em que o czar Nicolau I declarou guerra à Turquia.
A divisão de Portugal em dois partidos.
A emigração política.
A tese da «usurpação»
A grande burguesia liberal portuguesa não reagiu de maneira adequada a toda esta evolução dos acontecimentos. De boa ou má vontade, aceitou-os. Por uma espécie de acordo tácito, alguns políticos foram aconselhados até, por amigos que pertenciam à facção miguelista ou ao corpo diplomático, a embarcar a tempo para o estrangeiro. Tal, por exemplo, o caso de Mousinho da Silveira, advertido pelo ministro das Finanças (69) e por outros que estavam em contacto com o embaixador inglês (70).
A tomada de posição mais notável, por parte da grande burguesia liberal, verifica-se depois de um levantamento das camadas médias, desencadeado nas províncias do Norte do País, em meados do mês de Maio. Enquanto as guarnições militares de Aveiro, Porto, Almada, Coimbra, etc., se declaravam prontas a defender a Carta e o sistema constitucional, com o apoio da burguesia das cidades e dos estudantes da Universidade (os civis organizaram-se em batalhões de voluntários), em Londres foi fretado um navio para levar ràpidamente ao Porto os chefes e os partidários da aristocracia liberal - o marquês de Palmela, o conde de Taipa, Cândido José Xavier, Saldanha, etc. -, os quais, ao chegar, se apoderaram logo da direcção do movimento. Mas este havia progredido durante todo o mês de Junho sem que o governo se atrevesse a desencadear a ofensiva para o abafar; e embora a situação militar não fosse desfavorável às forças revoltosas (71), os chefes da aristocracia liberal decidiram dissolver a Junta constituída no Porto, e embarcaram para regressar a Inglaterra, abandonando os milhares de soldados e de civis empenhados na luta contra a usurpação de D. Miguel.
Foi a partir desta fuga, a 3 de Julho (72) - a Belfastada, do nome do navio Belfast - que Portugal se dividiu em partidos bem definidos: o dos miguelistas, sequazes do Antigo Regime político e também, em geral, do Antigo Regime económico (73), rodeando o trono de D. Miguel e proclamando-o sucessor legítimo (assento das Três Ordens, a 11 de Julho); e o dos liberais, adeptos da Carta de 1826 ou antigos adeptos da Constituição de 1822. Todos estes, para não serem presos, procuraram, aos milhares, fugir para o estrangeiro, onde principiou a grande emigração política dos partidários da jovem rainha Maria II, filha de D. Pedro.
Após a Belfastada, os que estavam implicados no levantamento das províncias do Norte atravessaram a fronteira de Espanha em número superior a 9.000. Todavia, a maior parte, por falta de meios de subsistência, voltou a Portugal. Aqui viveram escondidos ou foram presos. Os que embarcaram (74) fixaram-se primeiro em Inglaterra, no depósito de Plymouth, onde se agruparam perto de 3.000. Depois a emigração estendeu-se para diversos países, especialmente França, Bélgica e Brasil. Em três anos, o número de emigrados atingiu 13 000.
Foi então que os liberais opuseram à aclamação de D. Miguel a tese da Usurpação, enunciada pelo marquês de Palmela e pelo jurista José António Guerreiro, autores do Manifesto dos direitos de S. M. F. a Senhora D. Maria II, publicado anònimamente em Londres em 1829. Os títulos dos capítulos que compõem este manifesto correspondem ao enunciado essencial da tese:
I - «Legítima sucessão de D. Pedro IV ao Trono português e da Sr.a D. Maria II por formal abdicação do seu augusto pai.»
II - «A elevação do infante D. Miguel ao Trono foi rigorosa usurpação, tão injusta em si quanto escandalosa nos meios.»
III - «São fúteis, falsos ou inconcludentes todos os argumentos com que se tem pretendido excluir D. Pedro ou chamar D. Miguel.»
IV - «Quando D. Miguel tivesse algum direito ao Trono, já em 1828 era passado o tempo próprio para o discutir, por estar o caso irrevogàvelmente decidido desde 1826.»
V - «O modo por que se procedeu a este novo julgado foi ilegal, nulo e escandaloso.»
Apoiando-se nesta tese, D. Pedro reivindicará pelas armas, a partir de 1832, o trono de Portugal para sua filha. E, reconhecida desde 1834 pelos governos inglês, francês e espanhol, a tese será integrada na própria essência do sistema monárquico constitucional português.
As modificações políticas na Europa e o apoio financeiro à causa liberal
Mas, na época da emigração, a sorte dos liberais portugueses só mudará após a Revolução francesa de Julho de 1830. A queda do gabinete britânico de Wellington, no mês de Novembro seguinte, e a abdicação forçada de D. Pedro ao trono brasileiro, em Abril de 1831, foram igualmente factores favoráveis à causa constitucional portuguesa. As potências europeias consideraram então o problema de um ponto de vista novo, facto que se traduziu, primeiramente, por um discreto apoio militar e político às pretensões da filha do ex-imperador ao trono português e, seguidamente, pela constituição de uma poderosa liga financeira que associou banqueiros britânicos e franceses à expedição militar sob o comando de D. Pedro.
Esta liga financeira, estabelecida durante conferências realizadas em Londres no decorrer da primeira quinzena de Agosto de 1831, sob os auspícios do ministro inglês dos Negócios Estrangeiros, Palmerston, e do embaixador de França, Talleyrand, foi da mais alta importância para a mudança do sistema político e económico em Portugal. Desenrolaram-se no Clarendon Hotel e nelas participaram, além do ex-imperador e seu encarregado de negócios, João Rocha Pinto, vários políticos portugueses como Mousinho da Silveira, Abreu e Lima, Cândido José Xavier, José Maria da Silva Carvalho, Agostinho José Freire e Manuel Gonçalves de Miranda, todos antigos ou futuros ministros.
No mês de Setembro as negociações chegaram a seu termo com a obtenção de um empréstimo de dois milhões de libras. Coberto pela firma francesa Ardoin & C.e, era na realidade garantido pelas casas inglesas de Rothschild e de Ricardo (o economista morto em 1823).
É sob pressão destes interesses, dos quais o agente bancário espanhol Mendizabal, em estreita ligação com Palmerston, se fez intérprete, levado tanto pelo seu zelo financeiro como pelo entusiasmo político que o animava em favor do liberalismo, que o governo da ditadura de D. Pedro tomará as medidas mais radicais para impelir Portugal na via do capitalismo moderno (75).
A importância da repressão durante a ditadura de D. Miguel.
A Guerra Civil (1832-1834)
Entretanto, desde o regresso de D. Miguel, a repressão no País não cessava de agravar-se. As perseguições contra os liberais eram, além disso, acompanhadas pela confiscação dos seus bens. Em 1829, os autores do Manifesto dos direitos de D. Maria anunciavam haver já, nesse momento, «mais de cinquenta mil pessoas pronunciadas culpadas; e (que) o próprio Governo não pôde ainda obter a relação da massa enorme de bens que têm sido por este meio sequestrados ou confiscados» (76).
Segundo outros dados, reproduzidos por Oliveira Martins (77), em 1831 o número das vítimas da repressão dividia-se da seguinte forma:
- nas prisões do reino .........................26.270
- deportações em África .......................1.600
- execuções ..................................................37
- julgamentos por contumácia ...............5.000
- emigração ...........................................13 700
______
46 607
Para uma população que, na época, não ultrapassava 3 milhões de habitantes, esta cifra significa que mais de 15‰ dos Portugueses eram atingidos pela repressão. Mas a percentagem é muito superior, se considerarmos os factos do ponto de vista moral e económico, em virtude das repercussões que teve pelo menos, sobre os membros da família de cada uma das vítimas.
As acusações por simples denúncia tornaram-se de tal modo frequentes que até eram instigadas oficialmente. Um édito do Governador militar de Coimbra que, em Fevereiro de 1833, proibia qualquer pessoa de falar das operações militares, ordenava, além disso, que as infracções lhe fossem comunicadas confidencialmente por todos os indivíduos que considerava, muito naturalmente, dotados de «decidido espírito e honrado carácter» (78) (sic).
Além disso, entre 1828 e 1834, sob a ditadura miguelista, 139 pessoas foram executadas por enforcamento ou por estrangulamento, ou passadas pelas armas (79). Entre as vítimas, contavam-se 11 estudantes da Universidade de Coimbra, 71 militares, 1 padre, 12 responsáveis pela sedição do Norte (Maio-Junho de 1828) e 19 acusados de revolta ou de encorajamento à revolta. Só na prisão da Torre de S. Julião da Barra, em Lisboa, estiveram presos 618 liberais, dos quais 79 morreram antes de serem libertados (80). Em Estremoz, de onde as forças liberais se aproximavam em Julho de 1838, foram mortos à machadada 33 prisioneiros que, sem uma tal fúria de violência, teriam sido libertados no dia seguinte.
Esta repressão antiliberal foi um factor extremamente importante que não pode de maneira alguma ser minimizado pela crítica histórica quando se analisa o processo da passagem do Antigo Regime para a monarquia liberal. Teve mesmo sobre a população reflexos muito mais funestos que a guerra civil, começada após o desembarque da expedição de D. Pedro perto do Porto, em Julho de 1832. No seu decurso, por cerca de dois anos, o total dos mortos em combate, do lado dos liberais, foi de 4.355; se acrescentarmos a este o número de feridos e de desaparecidos, de prisioneiros e desertores, o cômputo das baixas eleva-se a 17.729 (81). Ora as vítimas das perseguições miguelistas, como vimos, atingiam já a cifra de 46.607, um ano antes do início da guerra civil.
A dureza desta repressão, cuja responsabilidade cabe inteiramente aos adeptos do Antigo Regime, teve como consequência permitir à burguesia identificar os seus interesses económicos ao ideal humanitário de libertação da pátria. O carácter negativo que, devido à repressão, assumiu a nobreza feudal, revelou, por contraste, o cunho positivo da burguesia, embora a segregação política, económica e social, bem activa desde 1823, tivesse eliminado os homens formados sob a influência do primeiro período liberal, e sobretudo os que se haviam revelado mais combativos e mais radicais. Além disso, esta polarização dos dois campos inimigos facilitou o desenvolvimento de reformas liberais, contràriamente ao que se passara no período de 1820-1823.
Na verdade, sem a violência persistente da facção miguelista, os liberais teriam pactuado com os adversários e procurado estabelecer um modus vivendi conjunto - esperança que os animara a promover a expedição financiada pelo empréstimo de Londres. Nas vésperas da partida da Belle-Ile, na costa francesa da Bretanha, D. Pedro traduziu tal esperança no manifesto de 2 de Fevereiro de 1832, ao anunciar uma amnistia para os partidários de D. Miguel e ao garantir-lhes as vidas e os bens. Enquanto permaneceu nos Açores, que se mantiveram fiéis à causa liberal, o primeiro governo de D. Pedro (Palmela, Mousinho da Silveira, Agostinho José Freire) estava convencido que o simples desembarque das tropas constitucionais em território continental bastaria para levar as tropas miguelistas a depor as armas, e que a vitória seria conseguida graças apenas ao efeito psicológico. O manifesto de D. Pedro aos soldados, no momento em que a expedição chegou perto do Porto, a 7 de Julho, confirma esta convicção: «Os vossos companheiros de armas virão engrossar as vossas fileiras e ambicionarão a honra de combater ao vosso lado.» (82). Neste contexto, se deve apreciar, aliás, nas suas devidas proporções, a acção legislativa de Mousinho da Silveira durante os meses em que esteve no poder, de Março a Novembro de 1832.
Apreciação da acção legislativa de Mousinho da Silveira
Se bem que ideólogos da burguesia portuguesa (caso de Garrett, em 1849 (83), e de Herculano, em 1856 (84) ) tenham, em geral, celebrado Mousinho como o maior reformador do liberalismo, não é menos verdade que os seus decretos não exerceram, na prática, um papel tão considerável nas mudanças de estrutura económica e social do País, primeiro porque o alcance da sua aplicação foi muito restrito, depois porque foram fortemente contestados em virtude de muitas das disposições equívocas que continham. É mais prudente considerá-los apenas como enunciados teóricos dos princípios do liberalismo económico, dominantes na época.
Nos Açores, com excepção dos três decretos de 16 de Março que organizaram a administração, as finanças públicas e a justiça - primeiros esquemas apresentados como possível base da estruturação do novo Estado -, a acção legislativa de Mousinho ficou reduzida, de facto, ao quadro administrativo do arquipélago: diminuição das dízimas e das sisas, abolição de morgados, capelas e outros privilégios, integração nos bens nacionais das propriedades dos conventos suprimidos nas ilhas, simplificação das tarifas aduaneiras, organização das alfândegas e outros regulamentos. No que respeita às reformas deste período, Mousinho ficou muito longe do que tinham empreendido as Cortes, para cuja dissolução, em 1823, tão poderosamente havia contribuído. Durante este período, limitou-se a dar corpo legal às medidas preconizadas por Garrett em 1830: «abolição dos tributos bárbaros, desproporcionados e injustos, como os dízimos, a maior parte das portagens, e muitos dos direitos de consumo» (85). As reformas anunciadas pelos decretos dos Açores não iam além desses limites.
Sòmente no Porto, no novo clima psicológico provocado pela surpresa da oposição das tropas adversárias (86), Mousinho viria a firmar os dois decretos abolicionistas mais importantes da sua passagem pelo governo: o da supressão dos dízimos (30 de Julho) e o designado por ((abolição dos forais)) (13 de Agosto).
O tom em que estes decretos foram apresentados exprime, de resto, o desígnio de, pela ameaça concreta da supressão dos privilégios, obrigar ainda o adversário a reconsiderar a sua disposição em prosseguir na luta armada. E, na realidade, sabe-se que Mousinho, após a instalação do governo no continente, bem tentou obter pela corrupção o apoio de alguns chefes militares do partido miguelista (87). Além disso, a amplitude da aplicação dos decretos foi muito restrita, particularmente no relativo à reforma dos forais, que em nada se reporta, como por vezes se afirma, à sua abolição.
O alcance do decreto de 13 de Agosto de 1832, que Oliveira Martins, por exemplo, considera um dos mais «revolucionários» do liberalismo português (88), é, pelo contrário, bem exíguo. Mousinho reconhece aí (tal como João VI já reconhecera em 1810) o «longo desejo dos Povos» de ver suprimir os forais, mas sem obter efeitos mais concretos que as Cortes, em 1822.
Embora não inteiramente ineficaz, o decreto deu origem a grandes confusões e a um imenso descontentamento popular. No conjunto, as suas disposições legais favoreceram, com o decorrer dos anos, abundante casuística interpretativa, cheia de subtis distinções entre a letra e o espírito, em consequência quer das obscuridades da redacção (89), quer das muitas excepções previstas (90). Uma tal confusão havia de manter-se até ao levantamento das populações rurais do Norte do País, em 1846, dando lugar ao movimento nacional da Patuleia.
Mesmo Herculano, que contudo estava longe de ser hostil ao decreto de Mousinho, e que, pessoal e firmemente, tomou partido na debatidíssima questão dos forais e dos fundamentos do princípio da propriedade - motivos, sem dúvida, catalisadores da sua vocação de historiador e em grande parte determinantes na orientação doutrinária da sua obra -, mesmo ele viu-se forçado a reconhecer, em 1858, que haviam faltado a estas disposições de 13 de Agosto «desenvolvimento e provisões que facilitassem a sua execução, falta que subministrou pretextos no espírito da reacção para o falsificar e anular em grande parte» (91).
A tardia celebridade que valeu a Mousinho a promulgação da lei dos forais foi fruto de circunstâncias históricas posteriores a 1832, e liga-se à discussão do problema da propriedade que agitou a burguesia portuguesa em meados do século XIX.
Na sua actividade legislativa, Mousinho vincou particularmente o carácter inviolável da propriedade privada (92). A rigidez desta posição coincidiu com graves divergências entre os constitucionais durante o cerco do Porto, do que resultou a saída do governo de Mousinho da Silveira, hostil ao confisco de umas 5.000 pipas de vinho reclamadas pelos financiadores londrinos. Enquanto uma facção (constituída entre outros por Palmela, Mousinho, Garrett) pendia para uma solução diplomática do conflito português, apelando para a intervenção das potências estrangeiras no sentido de fazerem cessar os combates e de se praticar uma política de condescendência para com o partido miguelista, uma outra facção mostrava-se disposta a prosseguir a luta até à liquidação deste, com todas as consequências que daí adviriam.
As reformas económicas fundamentais do liberalismo português
Foi então, depois de Palmela e Mousinho haverem deixado o governo (Dezembro de 1832), que entraram no ministério outros homens, cujas medidas tornaram possível a continuação da luta até à vitória, e que D. Pedro pôde decididamente fazer face aos encargos financeiros do cerco que as tropas constitucionais mantiveram durante quase um ano.
As reformas económicas do liberalismo prosseguiram e tornaram-se efectivas graças à acção do novo ministério constituído por José da Silva Carvalho, Agostinho José Freire e Joaquim António de Aguiar. Não sentindo os mesmos escrúpulos perante o princípio da inviolabilidade da propriedade privada, os novos legisladores iniciaram um vasto processo de transferência de títulos de propriedade graças aos decretos que prescreveram as indemnizações, a venda dos bens nacionais, a supressão da Casa do Infantado e das Ordens religiosas.
Foi devido a estas medidas, fundamentais para o aniquilamento da antiga nobreza feudal e para a consolidação, no plano económico, da nova burguesia liberal, que o nosso País se pôde elevar ao nível das concepções económicas e financeiras que, desde 1830, se robusteceram nas outras nações ocidentais da Europa.
A Carta constitucional, estandarte da alta burguesia
Seria porém errado imaginar que a instauração do capitalismo financeiro, que teve por expressão política a monarquia constitucional, fosse obra dos vencidos de 1823. Ainda que alguns políticos, como Silva Carvalho e Agostinho Freire, ministros do primeiro período liberal, viessem ocupar, em 1833-1834, postos importantes no governo, uma verdade nos cumpre registar: nenhum deles era já adepto da Constituição democrática de 1822. A uma consciência mais reflectida dos seus interesses de classe tinham-se aliado motivos de segurança pessoal a impeli-los, no intervalo, a repudiar o regime de soberania das Cortes e aderir ao sistema cesarista estabelecido pela Carta de 1826.
Os ideais burgueses, triunfantes em 1834, reflectem melhor os princípios fundamentais que inspiraram a Napoleão as estruturas do Primeiro Império: a liberdade civil dos proprietários e a dependência económica dos que não dispunham de outra riqueza além da força de trabalho. Tal foi a posição adoptada em Portugal pelo partido vencedor dos constitucionais. A própria personalidade política do seu chefe representa e simboliza a orientação napoleónica.
Autócrata, hostil aos movimentos populares e adversário das revoluções (93), D. Pedro estava ligado à memória de Napoleão, tanto pela admiração pessoal como pelos laços de família que podia evocar: pelo primeiro casamento, era cunhado da arquiduquesa Maria Luísa, segunda esposa de Napoleão (eram portanto, ambos, genros do imperador da Áustria Francisco I); e em segundas núpcias, desposara uma neta da imperatriz Josefina, primeira mulher de Napoleão (94).
Na evolução da sociedade portuguesa, D. Pedro representa uma espécie de charneira entre o Antigo Regime feudal e a era moderna do capitalismo. Ajudado pela exuberância do seu temperamento, e animado, quer pelo desejo de glória e de poder, quer pelos interesses pessoais e pela simpatia para com o sistema de investimentos financeiros, este príncipe original, português pelo nascimento e brasileiro por adopção, transformara-se, no curto espaço de uma dezena de anos: de defensor, que foi primeiramente, das ambições políticas da Santa Aliança no continente americano, em concordância com o imperador da Áustria, seu sogro, em adepto da Revolução de Julho e íntimo do rei Luís Filipe, seu parente também.
Foi pois brandindo como estandarte a Carta outorgada por D. Pedro, que os liberais empreenderam a luta armada para dar o assalto ao Poder. Após a vitória, a mesma Carta permitiu-lhes sentirem-se mais seguros da predominância da grande burguesia sobre as outras classes e camadas sociais, quer se tratasse da nobreza privilegiada do Antigo Regime, quer da plebe e da classe trabalhadora que, pela sua condição de não possuidoras, ficavam afastadas da cidadania política.
Só em 1836, com a Revolução de Setembro, se assistirá a um novo impulso democrático.
O intervencionismo estrangeiro de 1834 e a importância do problema colonial
Aquela vitória de 1834, imposta pelas armas, gozava do apoio diplomático da Inglaterra, cuja política externa, então dirigida por Lorde Palmerston, continuava a orientação expansionista de Canning. Desejando vivamente opor à Santa Aliança uma nova liga de nações que consolidasse, sob a hegemonia inglesa, a situação política no ocidente europeu, Palmerston concebeu uma «Quádrupla Aliança», por meio da qual os governos francês e britânico, com representantes dos governos constitucionais da Espanha e de Portugal, se comprometiam a manter as instituições liberais e a expulsar da Península os dois infantes que estavam à cabeça das facções apostólicas nos dois países - em Espanha D. Carlos, tio da rainha Isabel, em Portugal D. Miguel, tio da rainha Maria II. Em 22 de Abril de 1834 assinou-se o tratado de Quádrupla Aliança; de 26 de Maio do mesmo ano é a convenção de Évora-Monte que, entre nós, pôs fim à guerra civil. Deste modo, e não importa considerar que as tropas espanholas tivessem penetrado em território português a fim de perseguir os elementos carlistas refugiados junto das forças do infante D. Miguel, o exército miguelista pôde ser vencido quando as forças dos dois campos se equilibravam ainda: contra 18.000 constitucionais em armas, os miguelistas dispunham de 16.000 soldados de infantaria e de 1.400 soldados de cavalaria.
Os objectivo diplomáticos da Grã-Bretanha, que desejava eliminar do continente os vestígios da influência antiga e poderosa da Rússia czarista e da Áustria imperial, contribuíram em grande parte para o triunfo do liberalismo português, embora este fosse a culminância de uma tenaz luta armada. Ao mesmo tempo que fazia inclinar a vitória em favor do partido constitucional, a Quádrupla Aliança estabelecia porém o princípio da intervenção das potências estrangeiras. Este seria aplicado de maneira escandalosa por ocasião da intervenção militar que, em 1847, abafou a insurreição popular da Patuleia. Nesta conjuntura política internacional, a superioridade diplomática da Inglaterra, reforçada pelo apoio financeiro que a causa liberal encontrara em Londres, agravou a posição subalterna dos governos portugueses liberais relativamente à velha aliada.
O problema colonial continuava a pesar sobre os destinos portugueses. Este aspecto subsistia para lá das mudanças de regime, se bem que a independência do Brasil já não oferecesse dificuldades diplomáticas análogas às que se registaram em 1825-1826, pois passara a considerar-se facto irreversível. Mas a atenção da Europa capitalista voltara-se para as fontes económicas dos territórios africanos, e o vasto império colonial português continuava a constituir um forte motivo de interesse para os países industriais em expansão.
A ditadura de D. Miguel fizera desaparecer, com efeito, as últimas esperanças de uma reintegração do Brasil na Coroa portuguesa - reintegração que não poderia efectuar-se senão com D. Pedro, segundo o plano de João VI, ao qual a Grã-Bretanha se opusera com tenacidade, forçando Portugal a reconhecer, em 1825, a independência da antiga colónia sul-americana. Em 1830, nem os absolutistas nem os constitucionais pensavam já no Brasil, a não ser como país cuja independência estava definitivamente conquistada, e para admitir que era preciso tirar daí os ensinamentos necessários - o fervoroso miguelista Acúrcio das Neves publicava em Lisboa um trabalho só consagrado já às colónias africanas e asiáticas - Considerações Políticas e comerciais sobre os Descobrimentos e Possessões dos Portugueses na África e na Ásia -, ao mesmo tempo que Almeida Garrett, no exílio, reconhecia que «erradamente lutou Portugal contra essa independência» (95). E em 1832, Mousinho oficializava esta opinião, reconhecendo, por sua vez, na exposição dos motivos do decreto da abolição das dízimas, que «os Portugueses se atormentam, se perseguem e se matam uns aos outros por não terem entendido que o Reino, tendo feito grandes Conquistas, viveu por mais de três séculos do trabalho dos escravos, e que, perdidos os escravos, era preciso criar uma nova maneira de existência, multiplicando os valores pelo trabalho próprio» (96).
O desviar da atenção das potências coloniais para as fontes do continente africano estava na via já prevista por Fernandes Tomás desde 1821, quando, em Fevereiro desse ano, fez às Cortes um traçado geral da situação do País: «À vossa sabedoria não há-de escapar que, nas críticas circunstâncias em que nos achamos, é necessário dar urna particular atenção aos nossos estabelecimentos de África e das ilhas adjacentes de Portugal» (97). Procurando novos campos de exploração económica para compensar a perda da colónia americana, a burguesia portuguesa preparava-se para valorizar os territórios coloniais de África que, até aí, tinham sobretudo constituído uma fonte de comércio de escravos, como Sá da Bandeira havia de sublinhar comentando o seu próprio decreto abolicionista de 10 de Dezembro de 1836: «Para poder apreciar bem o alcance deste decreto, é preciso saber que das colónias de Angola e de Moçambique se exportavam, todos os anos, vários milhares de negros para o Brasil e para as Antilhas e outros lugares; e que o imposto levantado sobre esta exportação constituía o principal rendimento dessas duas colónias» (98).
Após o triunfo do liberalismo, as colónias portuguesas continuaram a provocar o interesse das grandes potências capitalistas do Ocidente da Europa e a ser motivo de interferências estrangeiras na marcha dos negócios políticos internos. Em 1836 o rei Leopoldo da Bélgica quis mandar tropas para Lisboa em socorro da rainha, para reprimir a Revolução de Setembro, com o desejo de conseguir que Portugal hipotecasse à Bélgica «uma das suas possessões territoriais na costa de África» a título de indemnização pelas despesas do corpo expedicionário (99). Em 1839 era a vez da Inglaterra que, a propósito de um diferendo entre as autoridades britânicas de Bombaim e funcionários portugueses de Goa, provocava um conflito a fim de ter pretexto para pedir indemnizações tão exorbitantes que permitiriam tomar, como base de negociação, a cessão de Goa, Damão, Diu e Macau à Companhia das Índias Orientais (100). Quanto à França, Saldanha será acusado de haver proposto a Guizot, na véspera da Revolução de 1848, a venda de Angola (101).
Mas depressa a atenção da facção vitoriosa devia concentrar-se especialmente nos problemas internos relativos ao estabelecimento da nova ordem capitalista.
O processo de transferência da propriedade
O êxito da causa simbolizada por D. Pedro permitiu expropriar os antigos senhores feudais. Mas, no fundo, mais não se fez que passar o domínio económico para as mãos da grande burguesia de proprietários de terras e de financeiros. Esta transferência efectuou-se graças a um conjunto de leis, das quais as mais notáveis foram as relativas às indemnizações, à supressão das Ordens Religiosas e à venda dos bens nacionais.
Pela primeira destas leis, assinada por Agostinho José Freire a 31 de Agosto de 1833, os adeptos do Antigo Regime eram declarados responsáveis, nas suas pessoas e bens, pelos prejuízos sofridos pelos emigrados, prisioneiros e fugitivos durante os anos de emigração e do governo de D. Miguel. Às municipalidades atribuía-se competência de tribunal para julgarem, em última instância, processos desta natureza.
A supressão das Ordens Religiosas foi decretada a 28 de Maio de 1834, sob pressão do agente financeiro em Londres, Mendizabal, por Joaquim António de Aguiar, ministro da Justiça. D. Pedro foi forçado a dirigir-se pessoalmente à oficina de impressão oficial para vigiar a publicação desta lei, tal era a seu respeito a oposição de um considerável sector de liberais, sempre pouco inclinados às inovações que arrastassem modificações económicas e sociais profundas. Em virtude desta supressão, os bens de 510 conventos, cujo rendimento total (dízimas, interesses, esmolas, rendas, capelas, etc.) se computou em 1.162.000 réis (102), passaram para o controle do Estado, sendo incorporados nas vendas de bens nacionais.
O decreto de venda dos bens nacionais, datado também de 1834 (18 de Junho), deve-se ao ministro das Finanças, Silva Carvalho, que justificou esta medida declarando-a necessária para suprir o deficit do Estado: punha em hasta pública os bens de mão morta acumulados sob o regime feudal -conventos, capelas, comendadorias, bens da Coroa, da Patriarcal, da Casa das Rainhas, e do Infantado. Graças a este processo, a expropriação de tais bens recaía em benefício exclusivamente dos capitalistas admitidos como compradores.
Tal venda levou Herculano a considerar, já em 1856, «o péssimo método com que tais bens foram e têm sido incorporados na fazenda e depois alienados». Esta enorme massa de riqueza territorial caiu «geralmente nas mãos de homens opulentos», assim como o reconhecia o mesmo autor: «Em muitos casos foi o rico proprietário que conglobou nos seus extensos prédios vastos prédios nacionais ( ... ) Outra parte serviu para converter muitos capitalistas em proprietários. Assim se anularam os mais importantes resultados, que se deviam ter tirado da reivindicação parcial dos bens da coroa para o património público, e da extinção das ordens religiosas» (103).
Os principais beneficiários deste processo de transferência da propriedade foram os grandes capitalistas, em número quase igual ao dos conventos suprimidos: houve um pouco mais de seiscentos compradores até 1836, ao passo que as congregações religiosas suprimidas eram em número de quinhentas e dez. A concentração da propriedade liberal substituiu-se à antiga concentração, de que só diferiu pelos titulares.
Apenas a aristocracia financeira partilhava com a grande burguesia latifundiária a direcção do novo Estado liberal, exercida graças ao deficit crescente da dívida pública. No momento da supressão do papel-moeda, em 1834, os títulos da dívida pública foram destinados às rendas dos conventos desaparecidos: em 1836, mais de metade do produto da venda dos bens nacionais fora paga em títulos. Desta maneira se identificaram as camadas da grande burguesia latifundiária e da grande burguesia financeira, ambas interessadas em alcançar um domínio político sobre o Estado, a fim de garantirem os seus privilégios económicos.
A dependência do novo Estado liberal em face da aristocracia financeira existia já desde a emigração, e ela não se limitava de maneira alguma a um grupo financeiro português. Em Londres, após um primeiro empréstimo de dois milhões de libras, em 1831, vários empréstimos sucessivos haviam sido contraídos, e a casa Rothschild exercia sobre eles um controle vigilante e altamente lucrativo. Em meados do ano de 1835, o barão Rothschild escrevia pessoalmente a Silva Carvalho: «Aproveito esta ocasião para reiterar ao Governo português as minhas ofertas de serviços, e não me reputarei pouco feliz por haver confiado aos meus cuidados uma parte dos negócios que um Governo tão distinto e de tão alta categoria, quanto a finanças, como o vosso, terá que tratar em Inglaterra» (104).
Este sistema de monopolização dos benefícios económicos originados pelo estabelecimento do liberalismo ajudou a tornar evidentes as contradições da burguesia em Portugal.
Assim como não contribuiu para a generalização da propriedade através de uma profunda reforma económica, o triunfo de 1834 não se traduziu também, no campo político, pelas mínimas concessões de carácter democrático. Muito pelo contrário, desde o início, o liberalismo português orientou-se no sentido ditatorial: à ditadura pessoal de D. Pedro, falecido quatro meses depois da vitória militar, sucedeu uma oligarquia que se estabeleceu no governo à sombra do regime parlamentar e que iria utilizar todos os meios que lhe conferia o Poder, incluindo a corrupção, para impor os seus fins autoritários.
A corrupção parlamentar, as tentativas de ditadura militar e os conflitos de interesses no seio da grande burguesia
A corrupção parlamentar generalizou-se de tal maneira desde os primeiros meses do novo regime, que um historiador português, Marques Gomes, vinculado nos seus trabalhos à corrente mais conservadora do liberalismo, não se priva de falar, muito cruamente, da «compra de Saldanha» no momento da abertura das Cortes, em Janeiro de 1835 (105). E na realidade, um «espião do governo» (106), na altura magistrado no Porto e deputado da «oposição» no Parlamento, mais tarde presidente das Cortes constituintes de 1837 e ministro «setembrista», Dias de Oliveira, mandava a partir de Agosto de 1833, ao ministro da Guerra, informações confidenciais confirmando o facto de esta «compra» se preparar de há muito, e estar longe de ser um caso único, pois se inscrevia no processo de corrupção normal. Comunicara ainda que fizera saber aos amigos do marechal Saldanha - sugestão que eles tinham «saboreado com prazer» - que Saldanha «podia reunir à glória militar que tem adquirido (...) a de concorrer eficazmente para plantar a Carta e a liberdade na sua Pátria (...) devendo lembrar-se que cedo ou tarde o partido liberal triunfaria e que, se lhe não dava comendas, podia dar-lhe, em vez de cem, como ao duque de Terceira, duzentos contos de reis». E o informador terminava manifestando a opinião de que «se o governo puder contar com ele decididamente, tem grande apoio; mas que, se não o arranjar, é preciso então destruí-lo, e muito sèriamente» (107).
É evidente que tal corrupção facilitava a concentração do poder político, graças à instauração de uma ditadura militar, ao mesmo tempo que permitia o domínio sobre o Estado às facções da grande burguesia mais ligadas aos poderosos interesses da finança estrangeira. A ditadura militar foi tentada por meio da atribuição das funções de marechal, com o comando efectivo do exército, ao príncipe consorte.
A jovem rainha teve por primeiro marido um príncipe de ascendência francesa, Auguste-Charles-Eugène-Napoleon, irmão mais novo da viúva de D. Pedro, filho, portanto, do príncipe Eugène de Beauharnais e neto da imperatriz Josefina. Mas este casamento, contraído em vida do pai, pouco duraria; o príncipe consorte chegou a Lisboa em fins de Janeiro de 1835 e morreu dois meses depois em circunstâncias imprevistas que fizeram supor tratar-se de um envenenamento.
O segundo matrimónio, negociado sob os auspícios do governo de Londres, trouxe à Coroa portuguesa um príncipe belga, ligado à família real britânica, circunstância que levou a Bélgica a partilhar a influência da Inglaterra em Portugal. Ferdinand de Saxe-Cobourg-Kohary, mais tarde Fernando II (após a morte da rainha, em 1853, quando ocupou a regência nos dois anos da menoridade de Pedro V), era, com efeito, sobrinho da duquesa de Kent e de Leopoldo I da Bélgica, isto é, primo co-irmão do príncipe Alberto, marido da rainha Vitória de Inglaterra.
Tanto para o primeiro como para o segundo casamento, a atribuição do marechalato ao príncipe consorte foi objecto de severas críticas públicas pelo que ela representava de tentativa para a imposição de uma ditadura monárquico-militar.
Além disso, no sector restrito da grande burguesia nasciam conflitos que opunham entre si poderosos interesses económicos.
O caso é flagrante na venda das lezírias do Tejo e do Sado, propriedades imensas que englobavam Samora, Belmonte, Murteira, etc., avaliadas oficialmente em 1.694.571$374 réis em 1835 e destinadas a ser vendidas em bloco, a uma sociedade. Grandes capitalistas, entre os quais o conde de Farrobo, o visconde de Picoas e Mousinho da Silveira, associaram-se ao ministro das Finanças, Silva Carvalho, e propuseram comprá-las por 2.000.000$000 réis. Mas um outro grupo de ricos proprietários, a que pertenciam os marqueses de Fronteira e Loulé, o conde da Taipa e o visconde de Sá da Bandeira (108), contrariou a venda, alegando que resultavam deste negócio diversos inconvenientes para os interesses nacionais e para as Finanças públicas, pois calculavam o valor real das lezírias no quíntuplo da avaliação oficial. Um protesto assinado em Novembro por estes oponentes, todos pares do reino, e por 15 deputados que os apoiavam, precedeu a queda do gabinete e fez então retardar a conclusão do negócio, tendo entrado no novo ministério dois dos signatários, Loulé e Sá da Bandeira. E foi sòmente em Abril do ano seguinte, após o regresso ao governo de Silva Carvalho, agora ao lado do duque da Terceira, que o negócio das lezírias ficou concluído.
Ao monopólio político e económico do Estado, opunham-se, não apenas as camadas populares, mas diversos sectores da burguesia e até os da grande burguesia que se mantinham à margem da direcção dos negócios públicos. Tais conflitos de interesses facilitaram o desabrochamento do movimento democrático que em 1836, com a Revolução de Setembro, atingiram a máxima amplitude.
Não achando o governo inclinado a proceder às reformas e medidas administrativas consideradas mais urgentes, diversas camadas da burguesia tiveram de se lançar à conquista do Poder, atacando de frente os que o detinham exclusivamente. Os interesses da burguesia industrial, assim corno os das camadas da média e da pequena burguesias, vieram desta feita reforçar um descontentamento que se generalizava. Na oposição ao governo do duque da Terceira, instalado desde Abril de 1836, encontravam-se industriais e artífices, agricultores, pequenos comerciantes e gente nova saída da Universidade - médicos, advogados, magistrados, homens de letras -, numa palavra: todos os homens de valor da classe média.
Em resumo, os interesses da grande burguesia não correspondiam aos de toda a burguesia liberal. Para resolver a contradição que se tornava cada vez mais aguda entre as facções opostas, a média burguesia atraiu à sua causa a pequena burguesia e até as camadas populares, mobilizando em proveito próprio o descontentamento generalizado à escala nacional. Esta mobilização, a que se vira compelida a média burguesia pela crise económica de 1836, fez-se por meio de campanhas políticas e campanhas de imprensa que profundamente agitaram, nesse ano, a opinião pública, ocupando-se advogados e jornalistas da acção doutrinária enquanto os clubes políticos lhe davam estrutura, com vistas a um levantamento.
As repercussões sociais da crise económica de 1836
Outros factores contribuíram ainda para o deflagrar do descontentamento público e facilitaram a tarefa da oposição política à oligarquia instalada.
1836 foi um ano de crise económica. Crise de superprodução, que se manifestou originàriamente em Inglaterra e que entre nós se repercutiu no campo da concorrência estrangeira aos produtos da indústria, e particularmente da indústria artesanal: no Porto, em finais do mês de Abril, perto de duzentos marceneiros destruíram, no cais de desembarque, os móveis de origem alemã que estavam a ser descarregados, indo depois entregar-se a manifestações hostis em frente de diversas firmas estrangeiras instaladas na cidade.
A concorrência industrial estrangeira não foi o único elemento a contribuir para a agitação social que, naquele ano, grassou pelo País: o fraco rendimento das últimas colheitas e a alta dos preços que se lhe seguiu era outro factor de agravamento da situação. No Porto, após as manifestações contra a concorrência estrangeira, urna multidão reunida na Praça da Farinha obrigou os negociantes de cereais a baixar os preços do milho, de que resultou o alqueire descer de 900 para 480 réis; logo de seguida, a população das aldeias, esfomeadas e reclamando pão barato, acorriam à cidade (109). A situação não era mais favorável na capital; em consequência disso, o Conselho de ministros decidiu, em princípios de Maio, que «se admitissem em Lisboa 600 moios de milho e no Porto 400 moios de milho dentro de dois meses sucessivos» (110).
A concorrência dos cereais estrangeiros não podia deixar de suscitar o desagrado dos proprietários agrícolas: por um lado, porque fazia baixar os preços dos seus produtos; e, por outro, porque as medidas adoptadas para Lisboa e Porto faziam diminuir as reservas de mão-de-obra, graças às quais mantinham, nos campos, a estabilidade dos salários. Não causa pois espanto que a burguesia agrária fosse, por este motivo, solidária com as medidas de repressão que esperava de um governo forte. Por sua parte, o governo contava com este apoio para remodelar o parlamento, através de novas eleições que se efectuaram em Julho, e que lhe permitiriam dispor de uma sólida maioria a fim de instalar a ditadura militar graças à atribuição do marechalato ao novo esposo da rainha, desembarcado em Lisboa no mês de Agosto.
A influência democrática de Espanha
Factos externos, ocorridos na vizinha Espanha, vieram contribuir, por sua vez, para a intensificação do movimento de protesto público contra o autoritarismo governamental. Um movimento insurreccional agitou, com efeito, a Espanha, nesta época, e atingiu o ponto culminante a 12 de Agosto com a chamada revolta dos sargentos da Granja, no local mesmo em que se refugiara a Corte, revolta que obrigou a rainha a prestar juramento à antiga Constituição de Cádis e a trocar por ela o Estatuto real, em vigor desde 1834.
Esta mudança política em Espanha indicava à oposição liberal portuguesa o caminho a seguir. O impulso democrático estendia-se a toda a Península, e em Portugal pediu-se que a Constituição de 1822 viesse substituir a Carta outorgada em 1826 e posta em prática no mesmo ano em que o fora o Estatuto espanhol.
Podemos avaliar o agravamento da situação interna portuguesa e as preocupações do governo através dos créditos extraordinários destinados a medidas de segurança: 2.000.000 de réis em 9 de Agosto e ainda 2.064.000 a 2 de Setembro, únicamente para o governador civil de Lisboa. Entretanto suspenderam-se as licenças dos soldados, e mandava-se reforçar com tropas de linha a guarda da prisão do Limoeiro (111).
A despeito de todas as medidas de prevenção e de intimidação, no dia 9 de Setembro explodiram manifestações populares em Lisboa. Ràpidamente se transformaram em insurreição armada; os soldados também haviam desobedecido às ordens dos oficiais; e no dia seguinte dava-se a queda do governo. Era o triunfo da revolução de Setembro.
Num opúsculo publicado uma semana mais tarde, afirmava-se que «a revolução da noite 9 mudou tudo em Portugal, o dia de hoje não é o dia de ontem» (112). Era verdade, em certa medida. Na realidade, com a Revolução de Setembro dava-se a ascensão do movimento popular, triunfante pela primeira vez desde a instauração do novo regime.
Representando, no seio do liberalismo, a explosão de uma crise nascida das suas próprias contradições, e exprimindo também uma reacção do espírito nacional de uma parte da burguesia contra a preponderância estrangeira nos negócios públicos portugueses, a Revolução não era menos importante, no ponto de vista social. Com ela nasceu uma nova força e Portugal começou a ter a experiência de novas lutas, com predominante carácter popular. Ela marcava o início de um decénio de intensa agitação social que atingiria o ponto culminante nos primeiros meses de 1847, sob a pressão do movimento da Patuleia. Durante este período o ascenso popular condicionou e por vezes até determinou a marcha dos acontecimentos políticos.
Semelhante experiência favorecerá, a partir de 1848, a difusão das doutrinas socialistas em Portugal.
(*) Na vasta bibliografia de Victor de Sá existe efetivamente este título, publicado por Livros Horizonte em 1987. O que aqui reproduzimos coincide apenas parcialmente com ele. Trata-se da Introdução e dos dois primeiros capítulos de ‘A crise do liberalismo e as primeiras manifestações das ideias socialistas em Portugal (1820-1852)’. É a tese de doutoramente que ele defendeu na Sorbonne, sob a orientação de Léon Bourdon e beneficiando também do convívio com Pierre Vilar, Albert Silbert e Vasco de Magalhães-Vilhena. Trouxe um abordagem completamente nova à arrancada do liberalismo português, contextualizando-a no seio do jogo das potências europeias da época, e decifrando claramente o discurso e a atuação concreta dos seus próceres dentro da complexa teia de interesses sociais em disputa.
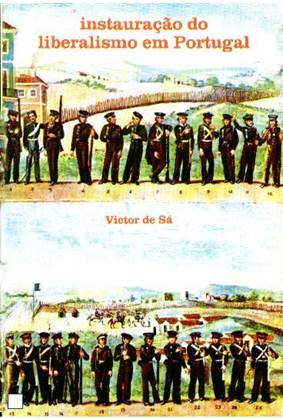
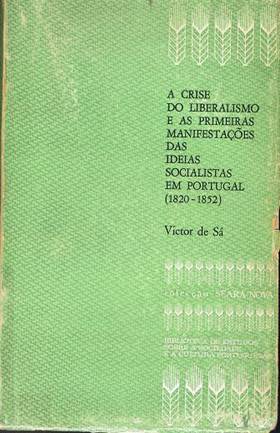
___________
NOTAS:
(1) Albert Silbert observou bem este aspecto numa conferência que fez na Escola Normal Superior de Saint-Cloud em princípios de 1968, sobre «Le Portugal devant Ia politique française (1799-1814)», na série Les Pays sous la domination française (Caderno do Centre de Documentation Universitaire, Paris, 1968).
(2) Dois autores, o espanhol José de Aldama Ayala (in Compendio geográfico-estadístico de Portugal y sus posesiones ultramarinas, Madrid, 1835, p. 125) e o português Gerardo A. Pery (in Geographia e Estatística geral de Portugal e Colónias, Lisboa, 1875, p. 79), dão-nos as cifras seguintes até 1851:
|
(Ayala) |
(Pery) |
1801 |
2.931.930 |
2.966.000 |
1820 |
3.013.900 |
- |
1822 |
- |
2.934.000 |
1828 |
3.038.865 |
- |
1835 |
- |
3.076.000 |
1838 |
3.224.474 |
|
1843 |
3.444.000 |
|
1850 |
3.471.199 |
|
1851 |
3.829.108 |
3.487.000 |
Gerardo Pery acrescenta ainda, para o terceiro quarto do século:
1864.......................3.978.713
1870.......................3.988.187
1871.......................3.990.570
1872.......................4.011.908
(3) A estatística de 1820, organizada pelo coronel Franzini, revela que, além de Lisboa, apenas quatro capitais de distrito ultrapassavam, nesse ano, dez mil habitantes: Porto (60.000), Setúbal (14.900), Braga (14.430) e Coimbra (13.100); Elvas vinha depois com 10.000 habitantes, enquanto Lisboa estava à cabeça com 210.000. O número total de habitantes concentrados então nas capitais de distrito classificadas como cidades era de 383.980 (in Almanach Portuguez, Anno de 1826, pp. 1-4).
Cinquenta anos mais tarde, por volta de 1875, tomando em consideração os dados mais recentes de que dispunha, Gerardo A. Pery assinalava uma população rural de 3.795.000 contra 483.000 habitantes das cidades mais importantes (op. cit., p. 33). A despeito das imprecisões, das diferenças e da classificação das capitais administrativas, o número, sempre demasiado fraco dos habitantes das cidades, confirma a bem pequena mudança que se operou na distribuição da população portuguesa.
(4) A propósito da famosa lei (13-VIII-1832) de Mousinho da Silveira à qual se atribui habitualmente a extinção dos forais, já em 1843 um deputado se lamentava, com razão, ao afirmar: «O decreto de 13 de Agosto de 1832, contendo grandes princípios, foi a Boceta de Pandora, que derramou sobre o País tantos males, por ter sido incerta a sua inteligência» (F. A. F. da Silva Ferrão, Repertorio Commentado sobre Foraes e Doações Régias, Lisboa, 1848, p. XXXII, em nota).
Voltaremos a este assunto no segundo capítulo.
(5) G. A. Pery, op. cit., p. 145. Entre as fábricas designadas por «grande indústria», incluía-se fiação, cardagem, estampagem, tecelagem, tinturaria, saboaria, papelaria, fundição, faiança, porcelana, vidraria, tanoaria, etc.. Entre as outras, classificava-se os padeiros, tecelões, alfaiates, sapateiros, tamanqueiros, chapeleiros, costureiros, marceneiros, barbeiros, serralheiros, ferradores, tanoeiros, funileiros, etc..
(6) José Barbosa, Para o estudo das origens da indústria em Portugal, Coimbra, 1949 (tese de licenciatura), publicada in Vértice, t. XXII, Coimbra, 1962 (pp. 15-21, 252-268, 242-252, 309-322); Jorge Borges de Macedo, Problemas de História e da Indústria Portuguesa no século XVIII, Lisboa, 1963, p. 169; e A Situação Económica no tempo de Pombal, Porto, 1951, pp. 251-260. Em 1789, fora criada em Portugal, pelo engenheiro de origem francesa T. L. Verdier, uma fábrica de fiação de algodão, que, segundo documento de 1810, era «uma das mais belas fábricas de fiação de algodão que havia fora de Inglaterra» (Transcrito por A. Silbert, in Autour de Francisco Solano Constâncio, 1950, p. 61).
(7) José Accursio das Neves, Variedades sobre Objectos Relativos às Artes, Commércio e Manufacturas consideradas segundo os princípios da Economia Política, 2 vols., Lisboa, 1814-1817; e Memória sobre os meios de melhorar a indústria portuguesa, considerada nos seus diferentes ramos, Lisboa, 1820.
(8) Dados tirados da relação nominal dos comerciantes inscritos, publicada in Almanach Portuguez, Anno de 1826, pp. 472-512.
(9) Fidélio Freitas Branco, in «Boletim da Real Associação Central da Agricultura Portuguesa», Lisboa, n.º 6.
(10) Jacques Droz, Lucien Genet e Jean Vidalenc, I'Époque Contemporaine, I, Restaurations et Révolutions (1815-1871), colecção «Clio», 2.ª ed., Paris, 1963.
(11) Idem, p. 306.
(12) O caso deste manual universitário é apenas um exemplo, e dos mais favoráveis, entre outros onde, apesar do bom nível dos trabalhos, o desconhecimento dos acontecimentos liberais em Portugal é chocante. Podemos também citar G. de Bertier de Savigny. No seu trabalho de 460 páginas, La Restauration (Paris 1855), se bem que sublinhe com justeza a influência britânica nos negócios portugueses, apenas se ocupa, em rápida passagem (pp. 395-396), de uma época demasiado restrita (1824-1826) e a propósito da política estrangeira do governo de Villèle; quanto ao movimento liberal propriamente dito, apenas lhe consagra uma menção que ocupa meia linha (p. 173).
Por seu turno, Felix Ponteil, em obra mais densa, L'Eveil des Nationalités et le mouvement libéral, 1815-1848 (Paris, 1960), nem sequer, ao longo de 716 páginas, se ocupa do liberalismo em Portugal; se faz duas referências à política do País, nessa época, é em breves parágrafos, um a propósito da independência do Brasil (p. 168), o outro sobre a sucessão do imperador D. Pedro no trono português (p. 171). Este desprezo pela história moderna da vida política e social portuguesa felizmente que não se generalizou. Além de algumas obras que citaremos no nosso trabalho, importa assinalar os estudos recentemente publicados por Albert Silbert, Le Portugal Méditérranéen à Ia fim de l'ancien régime. XVIIIe - début du XIX siècle (Paris, 1966, em dois volumes), e Le Problème agraire portugais au temps des premières Cortes Libérales (1821-1823) (Paris, 1968).
(13) A este propósito, Oliveira Martins escreveu de maneira muito precisa: «Não é pois à política, é à literatura que nós iremos pedir a explicação do novo sistema», etc. (in Portugal Contemporâneo III, Lisboa, 1953, p. 316).
(14) Joaquim José da Silva Maia, Memórias históricas, políticas e filosóficas da Revolução do Porto em Maio de 1828, e dos emigrados portugueses pela Hespanha, Inglaterra, França e Bélgica, Rio de Janeiro, 1841, pp. 229-242.
(15) Na segunda edição, Porto, 1867, p. 293.
(16) Histoire de Ia civilisation en France depuis Ia chute de I'Empire romain, 4 vols., Paris, 1828-1830.
(17) De Ia democratie en Amérique, 2 vols., Paris, 1835-1838.
(18) «Apontamentos para a história dos bens da coroa e forais (1843-1844)», in Opúsculos, t. VI, p. 287.
(19) Idem, p. 265.
(20) Idem, p. 299 O facto de Herculano ter considerado, a respeito das obrigações militares, que só mais tarde, com a Revolução de 1383-1385, elas se estenderam aos não possuidores, os «besteiros de conto», mesteirais «de ofício fabril» (p. 300), sugere-nos a hipótese que é talvez essa uma razão que o levasse a interromper a História de Portugal (Lisboa, 1846-1853). Quaisquer que sejam os motivos materiais por que não a prosseguiu para lá do reinado de Afonso III, quer dizer, do século XIII, a coincidência não pode deixar de ser significativa. Na verdade, Herculano não ultrapassa precisamente o período que serviu de base à sua teoria de classe.
(21) Lisboa, 1838 (5 volumes). José Maria de Sousa Monteiro é um autor raramente citado; os liberais acusavam-no de ter renegado a Franco-Maçonaria.
(22) Utopias desmascaradas do sistema liberal em Portugal, Lisboa, 1858, p 93.
(23) História da Guerra Civil, t. XI, Lisboa, 1881, p. XIII.
(24) Portugal Contemporâneo, III, p. 173.
(25) Fernando Piteira Santos chamou já a atenção para a importância do relatório sobre este assunto, mandado para o Rio de Janeiro no mês de Junho de 1820 (in Geografia e Economia da Revolução de 1820, Lisboa, 1962, pp. 110-116). Um outro autor português, Julião Soares de Azevedo, estudou também as Condições económicas da Revolução Portuguesa de 1820, num trabalho publicado em Lisboa com este título, em 1944.
(26) Os historiadores liberais não notaram este aspecto, mas a correspondência consular francesa chegada de Portugal, durante o ano de 1820, revela-o (informação dada pelo Prof. Albert Silbert, que a consultou, durante o seu curso na Ecole des Hautes Etudes, 1965-1966, em Paris). Semelhante estado de agitação social é confirmado por algumas reclamações apresentadas, mais tarde, às Cortes.
(27) In Clemente José dos Santos e José Augusto da Silva, Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, I, Lisboa, 1883, p. 6.
(28) F. Piteira Santos, op. cit., p. 95.
(29) Havia também, bem entendido, juristas ligados ao comércio e às actividades marítimas, como Fernandes Tomás, pertencente à burguesia da Figueira da Foz, o que, porém, o não impedia de também possuir terras. Quando ele apresenta às Cortes, em princípios de Fevereiro de 1821, o seu relatório sobre o estado público de Portugal, é a situação da agricultura que sobretudo o preocupa; a respeito da indústria, pelo contrário, vai até dizer que o estabelecimento de certas fábricas pode ser considerado mais um mal que um bem. E o futuro autor do Código Comercial, o deputado Ferreira Borges, era, como jurista, secretário da Companhia das Vinhas do Alto Douro, poderosa empresa agrícola, da qual se fez advogado no próprio Parlamento.
(30) Transcrito do «Diário do Governo» n.º 70, de 24 de Março de 1822, por António Viana in Apontamentos para a História Diplomática, II, Lisboa, 1922, p. 94.
(31) Há confirmações deste objectivo: por exemplo, a carta de Pedro a seu pai (19 de Junho de 1822), em que dizia: «eu serei rei do Brasil mas também gozarei da honra de ser de V. M. súbdito» (in Clemente J. Santos e J. A. Silva, op. cit., I, p. 358); e o testemunho de um diplomata brasileiro da época, o marquês de Rezende: «Quando o rei se despediu do filho (...) disse-lhe: "Prevejo que o Brasil não tardará a separar-se de Portugal, e neste caso, preferiria ver-te à cabeça desse movimento e tomar para ti a coroa, do que ver passar esse florão da coroa de Bragança para as mãos de um aventureiro." (...) A 12 de Março de 1822, o rei repetiu ao filho, numa carta de que me encarregou e que mostrei depois, por ordem sua, ao imperador da Áustria, os conselhos que lhe dera à partida» (in Eclaircissements historiques..., Paris, 1832, p. 10).
(32) O escritor português que vivia em Paris e que conta este acontecimento, Francisco Solano Constâncio, precisaria que foi informado dessa missão pelo próprio autor do memorial dirigido a D. Pedro, o «protegido da família d'Angeja», Cândido José Xavier (F. S. Constâncio, História do Brasil, Paris, 1839, II, p. 269, versão retomada por Gervinus in Histoire du XIXe siècle, X, Paris, 1866, p. 251).
(33) «…é o que juro a vossa majestade, escrevendo nesta com o meu sangue estas seguintes palavras: "Juro sempre ser fiel a vossa majestade, à nação e à constituição"» - carta de 4 de Outubro de 1821 (in Clem. J. Santos e J. A. Silva, op. cit., I, p. 256). Deverá ter-se em conta o tempo de viagem entre Portugal e o Brasil, nessa época cerca de um mês.
(34) Carta régia de 7 de Março, a propósito do tratado de comércio com a Grã-Bretanha, assinado a 19 de Fevereiro de 1810 (in A. Delgado da Silva, Colecção de Legislação Portugueza, 1802-1810, Lisboa, 1826, p. 860).
(35) Este aspecto foi especialmente sublinhado pelo professor Albert Silbert durante o seu curso na École Pratique des Hautes Études (1964-1965) e trata-o expressamente na introdução da sua obra Le Problème agraire portugais au temps des premières Cortès libérales (1821-1823), Paris, 1968.
(36) Pelo tratado secreto de 22 de Novembro de 1822, os representantes da Áustria, da França, da Prússia, ao declararem que o sistema de governo representativo era incompatível com o princípio monárquico, e que a soberania do povo se opunha ao princípio do direito divino, concordaram que «a situação actual da Espanha e de Portugal» não estava de acordo com esses princípios, e decidiram, por isso, confiar o assunto às tropas francesas, do mesmo modo que, anteriormente, as tropas austríacas haviam sido encarregadas de abafar o levantamento liberal nos Estados italianos.
(37) Recordemos que Chateaubriand foi embaixador de França em Londres a partir de 10 de Janeiro de 1822, participou no Congresso de Verona (Setembro-Dezembro) e tornou-se depois ministro dos Negócios Estrangeiros, nomeado a 28 de Dezembro do mesmo ano.
(38) Clem. J. Santos e J. A. Silva, op. cit., I, p. 700; Sousa Monteiro, História de Portugal, III, p. 105. Segundo o parecer do núncio apostólico em Lisboa, expresso no relatório enviado para Roma, «as Cortes puseram imediatamente toda Lisboa em armas, e por toda a parte só se viam soldados de linha e guardas cívicos, com canhões, a ameaçarem toda a gente» (Of. N.º 683 de Mons. Cherubini, publicado por N. Accioly, Os movimentos miguelistas de 1823 e 1824, in «Revista do Instit. Hist. e Geog. Bras.», n.º 194, 1947, p. 9). Esta opinião concorda com a do comandante militar encarregado de «restabelecer a ordem e a tranquilidade»; reconhecia ele, quatro dias mais tarde, ser «pasmoso ver que entre um povo imenso e todo armado, nem uma atrocidade se tenha cometido» (in Clem. J. Santos e J. A. Silva, op. cit., I, p. 715).
(39) Sousa Monteiro, op. cit., III, p. 108. O núncio, Mons. Cherubini, lamentava-se então: «Será coisa dificílima e perigosíssima restabelecer a paz nesta capital» (H. Accioly, idem, p. 10).
(40) Clem. J. Santos e J. A. Silva, op. cit., I, p. 706.
(41) Conforme comunicação oficial apresentada às Cortes, o rei fugiu «com a sua real família pela porta da quinta», e «depois do sol posto» (Clem. J. Santos e J. A. Silva, op. cit., I, p. 709), o que, confirmando, por um lado, a atitude hostil da população de Lisboa, desmente, por outro, a lenda repetida por alguns historiadores segundo a qual o rei, tendo sido aclamado pelo povo, teria respondido: «pois bem, já que o quereis, viva o rei absoluto!» (por exemplo, Sousa Monteiro, op. cit., III, p. 114).
(42) Clem. J. Santos e J. A. Silva, op. cit., I, p. 712.
(43) «Eles mesmos se dissolveram de facto, como de facto se congregaram; e eu os dissolvo de direito» - proclamação de 3 de Junho (Clemente, op. cit., I, p. 749). A fórmula alude a um protesto, que deste modo se apouca, assinado então por 61 deputados (Clem. J. Santos e J. A. Silva, op. cit., I, pp. 718-719).
(44) Carta de Pamplona a João VI, do dia 27 de Maio de 1823 (Clem. J. Santos e J. A. Silva, op. cit., I, p. 699); J. L. Freire de Carvalho, Essai historico-politique, Paris, 1830, p. 279; Luz Soriano, História da Guerra Civil, XII, p. 154; Sousa Monteiro, op. cit., III, p. 100.
(45) Clem. J. Santos e J. A. Silva, op. cit., p. 706; J. L. Freire de Carvalho, op. cit., p. 285.
(46) Torres e Sanches do Baena, Memórias histórico-genealógicas dos duques portugueses do século XIX, Lisboa, 1883, pp. 611-613.
(47) Luz Soriano, Vida do Marquês Sá da Bandeira, I, Lisboa, 1887, pp. 69-70.
(48) «…Não cuide V. M. por isso que eu pretenda affiançar a segurança da cidade, ou a conservação dos fundos públicos; pelo contrário julgo tudo arriscado se tardarem as providências do Throno. V. M. mandará o que for servido. - Lisboa, 31 de Maio de 1823.» Foi em resposta a esta carta que o rei mandou a Mousinho a proclamação de 31. (Documento transcrito por Possidónio M. Laranjo Coelho, in Mousinho da Silveira, Lisboa, 1918, p. 63)
(49) Clem. J. Santos e J. A. Silva, op. cit., p. 712.
(50) J. L. Freire de Carvalho, op. cit., p. 272. O papel de Mousinho junto das Cortes confirma-se assim por carta que o general Pamplona lhe dirige na noite do dia 2: «Recebi as suas trez Cartas, foi bom ficar para dar fé, mas nada de fraquezas, senão está tudo perdido»... «Amanhã mando ocupar as barreiras e dissolver o Congresso pela força armada, se não se tiver dissolvido a si mesmo»... «Amanhã mandarei a cópia do Decreto da dissolução para se imprimir e affixar»... (transcrito por Poss. Coelho, op. cit., p. 665, em nota).
(51) Correspondência de 2 de Junho entre Mousinho e J. A. Guerreiro (in Clem. J. Santos e J. A. Silva, op. cit., I, p. 713, em nota).
(52) «…essa foi sempre a minha linguagem desde as bases [da Constituição], e sobre elas tive muitas disputas com os Liberais» (manuscrito transcrito por Poss. Coelho, op. cit., p. 66).
(53) C.te Joseph de Villèle, Mémoires et correspondance, IV, Paris, 1889, p. 63.
(54) Carta de 27 de Junho (in Villèle, op. cit., p. 158).
(55) Carta de Villèle ao duque de Angulema datada de 2 de Julho (in Villèle, op. cit., IV, p. 178).
(56) In Villèle, op. cit., IV, p. 152.
(57) Ibidem, p. 183.
(58) L. Freire de Carvalho, op. cit., p. 289; Sousa Monteiro, op. cit., III, pp. 133-134; F. S. Constâncio, op. cit., II, p. 362. A responsabilidade deste empréstimo foi, na verdade, transferida em 1825 para o Brasil, em virtude de uma cláusula secreta adicional do tratado de independência negociado no Rio de Janeiro por Sir Charles Stuart em nome do rei de Portugal.
(59) Palmela escrevia já em 28 de Janeiro de 1824, numa carta: «O Senhor Infante é mui moço, ocupa-se pouco ou nada de coisas sérias; e o ministro da guerra não inspira nem respeito nem confiança: o único recurso seria entregar o comando (debaixo das ordens do Senhor Infante) ao Beresford, que estaria disposto a naturalizar-se e que não entrando acompanhado da chusma de oficiais ingleses que anteriormente havia, talvez achasse um grande partido em toda a gente sensata, e seria homem em quem se poderia com plena confiança descansar» (in Palmela, Despachos e Correspondência, I, Lisboa, 1851, p. 336). Beresford encontra-se, seguidamente, do lado do infante, nos acontecimentos da Abrilada.
(60) As decisões de D. Pedro após a morte do pai foram publicadas em França no jornal «L'Etoile» do dia 19 de Junho de 1826; o jornal oficial português, «Gazeta de Lisboa», só a 3 de Julho dará notícia da chegada dos decretos.
(61) O embaixador Sir Frederick Lamb, que em seguida foi transferido para Lisboa.
(62) Aclamação oficial, em Lisboa, de Pedro IV como legítimo herdeiro dos direitos de João VI, a 27 de Março de 1826. O barão de Neuville, que transcreve a mensagem levada a D. Pedro, evidencia bem este reconhecimento dos seus direitos à sucessão: «É saudado rei de Portugal por sua mãe, seu irmão, por toda a família, pelo clero, a nobreza, o povo, os tribunais, o exército de terra e mar, todas as ordens, todas as corporações do Estado. Uma delegação, presidida pelo duque de Lafões, irmão do duque de Cadaval, primeiro par do reino e próximo parente do Rei, atravessa os mares, e vem depor aos pés do soberano a homenagem que lhe é devida como nosso rei natural e soberano legítimo.» (Neuville, De Ia Question portugaise, Paris, 1830, p. 13) Faz aqui alusão à delegação que partiu de Lisboa em fins de Abril de 1826 para saudar o novo rei, mal recebida por D. Pedro já após a outorga da Carta Constitucional.
(63) O contrato de casamento, de que o marquês de Rezende foi uma das testemunhas, firmou-se efectivamente no palácio imperial de Viena, a 29 de Outubro de 1826 (Rezende, op. cit., p. 53).
(64) Decreto de D. Pedro, de 3 de Julho de 1827. «A intenção de D. Pedro de constituir D. Miguel lugar-tenente em Portugal, era conhecida em Viena, e foi comunicada a D. Miguel por M. de Metternich. Dada a exaltação do povo nesta época, a partida de D. Miguel para Portugal foi julgada necessária.» (H. de Neuville, De Ia Question portugaise, p. 78).
Ver também Oliveira Lima, Dom Pedro e Dom Miguel. A Querela da Sucessão (1826-1828), São Paulo (1925), e António Vianna, Apontamentos para a história diplomática contemporânea, lII - A Carta e a Reacção, Lisboa, 1958.
(65) Proclamação de 12 de Julho de 1826, anunciando a outorga da Carta (in Clem. J. dos Santos e J. A. da Silva, Documentos para a História das Cortes, II, Lisboa, 1884, p. 59).
(66) Marcello Caetano, Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, Lisboa, 1967, pp. 393 e 394, ou História breve das Constituições portuguesas, Lisboa, 1965, p. 29. Nestas obras, a justa e autorizada análise da matéria constitucional contrasta com a perspectiva histórica em que se inscreve, manifestamente eivada dos vícios transmitidos pela historiografia tradicional que criticaremos no decurso do capítulo IV.
(67) Marquis de Rezende, Eclaircissements historiques, Paris, 1832, pp. 41-43; A. Viana, Apontamentos para a História Diplomática Contemporânea, III - A Carta e a reacção, Lisboa, 1958, pp. 251-253.
(68) A importância deste discurso, no contexto dos problemas internacionais, é atestada pelo número das edições que se fizeram imediatamente, quatro inglesas e duas francesas.
(69) Possidónio M. Laranjo Coelho, Mousinho da Silveira, Lisboa, 1918, p. 82.
(70) Oliveira Lima, Dom Pedro e Dom Miguel, São Paulo (1925), p. 256.
(71) J. J. da Silva Maia, Memórias..., Rio de Janeiro, 1841, pp. 71-75.
(72) Não tendo sido anunciada a partida do Belfast, as forças constitucionais prosseguiram a luta armada e no dia seguinte, 4 de Julho, alcançaram ainda em Braga uma vitória sobre os miguelistas.
(73) Poder-se-ia dizer que, do ponto de vista político, o partido miguelista aplicou a Portugal os conselhos do teórico suíço da Restauração, Charles-Louis Haller, adepto do regresso ao feudalismo e à monarquia universal pontifícia, que preconizou em 1820, a propósito da Espanha (La Constitution des Cortès espagnoles), a adopção de uma política de protecção da Igreja católica, de reconstrução de tudo o que a Revolução destruíra, o restabelecimento do sistema das Três Ordens, dos privilégios, das rendas fundiárias, a expulsão dos liberais de todos os empregos e a supressão da liberdade de imprensa. Mas, do ponto de vista económico, não podemos esquecer que um dos mais notáveis miguelistas, José Acúrcio das Neves, era também um dos mais entusiastas defensores da industrialização do País.
(74) Número dos embarcados, segundo Luz Soriano: 2.380 (in História da Guerra Civil, XIV, Lisboa, 1883, p. 66); segundo Silva Maia, os que embarcaram na Corunha e em Ferrol teriam sido 2.868 (op. cit., p. 227). O primeiro autor indica a composição social do grupo: 149 oficiais do exército, 432 oficiais inferiores, regulares e voluntários, 702 soldados, 610 voluntários, entre os quais alguns comerciantes e proprietários, 38 magistrados, 140 professores, advogados, médicos e membros doutras profissões liberais, 37 membros do clero, 51 funcionários da administração pública, 66 proprietários e comerciantes e 158 pessoas de família (mulheres, crianças e criados).
(75) Cf. a correspondência de Mendizabal, in A. Viana, Documentos para a história contemporânea, III, Lisboa, 1894. Almeida Garrett faz claramente alusão a esta liga financeira numa passagem das Viagens na minha terra: «Esquecia-me dizer que daqueles três grandes poetas do nosso século só um está traduzido em português - o Rothschild; não é literal a tradução: agalegou-se e ficou suja de erros de imprensa; mas como não há outra...» (in ed. Sá da Costa, Lisboa, 1954, p. 70, ou ed. Portugália, Lisboa, 1963, pp. 65-66).
(76) [Palmela e Guerreiro], Manifesto dos direitos de S. M. Fidelíssima, a senhora dona Maria segunda, Londres, 1829, p. 58.
(77) Portugal Contemporâneo, I, Lisboa, 1953, p. 191.
(78) Édito reproduzido por Joaquim Martins de Carvalho no «Conimbrincense» de 8-III-1883, e transcrito por Soriano na História da Guerra Civil, VII, Lisboa, 1885, pp. 610-611.
(79) A. L. de Sousa Henriques Secco, Memórias do tempo passado e presente..., I, Coimbra, 1880, pp. 407-448 e II, Coimbra, 1889, pp. 198-208.
(80) J. B. da Silva Lopes, Istória do cativeiro dos prezos de Estado..., I, Lisboa, 1833, p. I; IV, Lisboa, 1834, pp. 186-192.
(81) Relatório do ministro da Guerra, apresentado às Cortes no dia 4-IX-1834 (in Soriano, op. cit., XVII, p. 605).
(82) Luz Soriano, op. cit., XV, Lisboa, 1883, p. 276.
(83) Almeida Garrett, Memória Histórica de José Xavier Mousinho da Silveira (in Obras Completas, ed. Teófilo Braga, II, Lisboa, 1904, pp. 433-441).
(84) Alexandre Herculano, Mousinho da Silveira ou Ia Révolution (in Opúsculos, II).
(85) In Portugal na Balança da Europa (Londres, 1830), 2.ª ed., Porto, 1867, pp. 316-317.
(86) «Nem a presença de V. M. I., estendendo-lhes a mão generosa, excitou remorsos em almas corrompidas pela sordidez. É então necessário aproveitar os conhecimentos da Europa civilizada e arrancar das mãos dos inimigos o fruto dos trabalhos dos Povos» - Mousinho, Relatório do Decreto n.º 42, de 13 de Agosto (in Colecção de decretos e regulamentos mandados publicar por S. M. I. Regente do Reino desde que assumiu a Regência até a sua entrada em Lisboa, Lisboa, 1833, p. 190).
(87) Possidónio Coelho, op. cit., p. 119.
(88) Eis a hipérbole retórica de Oliveira Martins: «As três leis de 16 de Maio, 30 de Julho e 31 de Agosto são o nosso 89» (in Portugal Contemporâneo, II, p. 162).
(89) Um especialista dos problemas dos forais, o jurista Silva Ferrão, escreveu a este propósito, em 1848: «A má colocação de algumas de suas disposições, por vezes alguma redundância e obscuridade, por uma parte; e a dificuldade, e por isso a ignorância da matéria, por outra parte; e sobretudo a falta absoluta de regras para a sua aplicação quando os senhorios ou gravados viessem a juízo, como AA. [autores] ou como RR. [réus], favoreciam toda a sorte de tropeços e de chicana; e quase sempre, como era natural, contra os pensionados, contra os possuidores ou cultivadores dos bens, em menoscabo do pensamento do Legislador, que principalmente os quis favorecer!» (in Repertório commentado..., Lisboa, 1848, p. IX).
(90) Extracto do Relatório: «O decreto que proponho tem duas grandes Sentenças gerais; a primeira é aumentar a massa dos Bens alodiais; a segunda é acabar a natureza dos Bens destinados a tolher o nascimento da elevação moral, salvo os direitos adquiridos, e entendidos segundo as leis anteriores» (as palavras são sublinhadas por nós) (in Colecção de decretos e regulamentos, p. 191).
(91) «Sobre a questão dos forais», in Opúsculos, VII, p. 276.
(92) Mousinho fez-se porta-bandeira desta posição oposta à do governo da Regência, instalado nos Açores antes de D. Pedro, e que havia decretado em 1831 o sequestro dos bens por motivos políticos. O primeiro decreto, datado de 7 de Março, aboliu os sequestros «indistintamente» para os «rebeldes» e para os «bons que gemem no meio deles», enunciando o princípio de que a causa de D. Pedro não era compatível com a violência deste proceder. A abolição das penas de confisco para toda a espécie de delitos (17 de Abril) e as definições dos delitos contra a propriedade (18 de Abril) completam as suas prescrições quanto ao carácter inviolável da propriedade privada.
(93) «Sou liberal, sou o chefe dos constitucionais, mas nunca o serei dos Revolucionários» - dizia D. Pedro no momento da sua abdicação no Brasil, segundo uma carta do encarregado dos negócios francês (in Denyse Dalbian, Dom Pedro I, Paris, 1959, p 146).
(94) Amélia Augusta Eugénia Napoleão de Leuchtenberg, filha do príncipe Eugénio de Beauharnais, antigo vice-rei de Itália, nomeado por Napoleão I.
(95) Portugal na Balança da Europa, Porto, 1876, p. 91.
(96) Decreto n.º 40 de 30 de Julho de 1832 (in Colecção de decretos e regulamentos..., p. 182).
(97) «Relatório acerca do Estado Público de Portugal», in Diário das Cortes, de 5 e 6 de Fevereiro de 1821.
(98) Sá da Bandeira, Lettre adressée au comte Goblet d'Alviella, Lisboa, 1870, p. 22.
(99) Alviella, L'Etablissement des Cobourg en Portugal, Paris, 1869, p. 87.
(100) Sá da Bandeira, op. cit., p. 66.
(101) A. Vianna, Documentos, II, Lisboa, 1894, p. 476. A venda de territórios coloniais iria ser também preconizada, em 1881, por Rodrigues de Freitas, mas pela razão expressa de uma condenação da política ultramarina e por considerar que «seria mais sensato e mais glorioso ter menos domínio colonial e aproveitá-lo melhor» (in O Portugal contemporâneo do Sr. Oliveira Martins, Porto, 1881, pp. 56-57).
(102) Gerardo A. Pery, Geographia e Estatística geral de Portugal e Colónias, Lisboa, 1875, p. 276.
(103) «Os vínculos», in Opúsculos, IV, pp. 16-18.
(104) In A. Vianna, Documentos, II, p. 189.
(105) Marques Gomes, Luctas caseiras, Lisboa, 1894, p. 78.
(106) António Dias de Oliveira, identificado por uma nota de Silva Carvalho, então ministro (in A. Vianna, Documentos, II, p. 48). A Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira define-o como «ilustre homem político do século XIX» (t. XIX, Lisboa, p. 353).
(107) In A. Vianna, Documentos, II, p. 50.
(108) Sá da Bandeira era um grande proprietário da região de Santarém; por morte do pai, em 1831, herdara, conforme ele próprio diz, «propriedades excelentes, que em vinho têm produzido 1.200 pipas, e em pão mais de 200 moios, além de outros frutos; que situadas na margem do Tejo, a doze léguas de Lisboa, têm sempre aberto o grande mercado da capital, e que são susceptíveis de imensos melhoramentos». (in Luz Soriano, Vida do Marquês Sá da Bandeira, I, Lisboa, 1887, p. 241).
(109) Albert Silbert, Chartisme et Septembrisme, Coimbra, 1952, p. 14.
(110) A. Vianna, Documentos, II, p. 282.
(111) A. Vianna, Documentos, II, pp. 287-290.
(112) [M. S. Cruz], Manifesto de um cidadão aos ministros da coroa e à Nação sobre a Revolução, Lisboa, 15 de Setembro de 1836 (in Colecção das Obras..., I, Lisboa, 1854, pp. 159-172).


